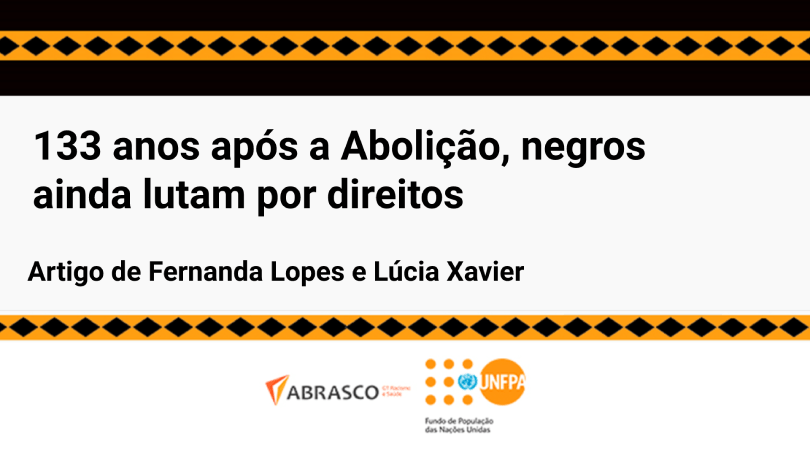
de População das Nações Unidas no Brasil (UNFPA)
Após 133 anos da tal Abolição, ‘assinada’ no dia 13 de maio, negros, negras e negres permanecem lutando pelo direito à vida, à liberdade, pela chance de respirar. No Brasil, onde mais de 428 mil vidas foram ceifadas por conta da covid 19, são muitas as evidências de que os efeitos da pandemia são desiguais, de acordo com a escolaridade, ocupação, renda, gênero, raça, etnia e território dos sujeitos. Sem ações governamentais eficientes e com a falta de consciência individual e coletiva, as assimetrias sociais e as violações de direitos foram ainda mais agravadas. E, infelizmente, dados mostram que a população negra tem sido mais afetada durante a pandemia.
O contraditório é que falamos de um país que, pelo menos na Constituição, a saúde é direito fundamental, e para todos. Dito isso, é injustificável a desigualdade nas oportunidades e condições de diagnóstico (incluindo acesso aos testes), na assistência com tempestividade e qualidade. Os serviços de saúde deveriam ser para todes, mas na prática, isso não é uma realidade.
Neste cenário de pandemia, observamos a não efetivação de direitos, aliado ao aumento das desigualdades e à ampliação das vulnerabilidades. A consequência disso está no reforço das iniquidades sociorraciais e na expansão dos efeitos nocivos sobre a saúde. É certo que, se (a) a liderança e os mecanismos de governança centrais do SUS fossem eficazes e resolutivos; (b) se os direitos fossem resguardados, e não dispensados ou retirados e; (c) se todas as vidas importassem, talvez, tivéssemos outro quadro passado pouco mais de um ano do primeiro registro de óbito: uma mulher, negra e diarista.
O perfil desta morte tem se repetido e comprova o quanto o racismo restringe o exercício de direitos, fere a dignidade e determina piores condições de vida e saúde, tanto no Brasil quanto no mundo. Nos EUA, por exemplo, o Centro de Controle de Doenças informa que, considerando o percentual de mortes por Covid-19 e da população, entre os negros há uma sobremortalidade de 10,5% e entre os brancos sub- mortalidade de 28,3%. No Reino Unido, negros e outras minorias étnicas, embora somem 13% da população, representam 1/3 dos admitidos em UTIs, tendo 4 vezes mais
chances de morrer, se comparados aos brancos. Situação semelhante é descrita no Brasil. Uma recente publicação da Agência Brasil divulgou que as mortes por doenças respiratórias, incluindo a Covid-19, aumentaram 28% entre a população negra. Entre pessoas brancas, o avanço ficou em 18%.
Se por um lado há evidências de que, quanto maior a vulnerabilidade, pior a percepção de risco e menor a capacidade de tomada de decisão protetiva em relação à saúde, no Brasil, negras, negros, negres; quilombolas; periféricos; favelados; indígenas – os rotulados “novos vulneráveis” – reiteram que o locus da tomada de decisão sobre a
saúde deve estar nas pessoas cujo estado de saúde está em questão. O enfrentamento do racismo, dentro e fora do SUS, é requisito fundamental para garantia da saúde como direito e não pode ser negociado ou transferido. No Brasil, onde se tinha, até então, a melhor política de imunização do mundo, agora é preciso reivindicar vacina para todes e advogar por projetos que não permitam furar a fila.
Movimentos sociais e outras institucionalidades se aliam e reforçam o lugar da sociedade civil como agente mobilizador em defesa de direitos. Cobram do Estado a garantia do direito à vida com dignidade, à saúde, à segurança alimentar e à justiça. A saúde é o resultado de um conjunto de condições individuais e coletivas influenciado por circunstâncias de ordem política, econômica, ambiental, cultural e social. Logo, em muitas situações, a doença e a morte não são obras do destino ou fatalidade, mas, sim, violação dos direitos.
Artigo publicado originalmente no site da Carta Capital.
Fernanda Lopes e Lúcia Xavier integram o GT Racismo e Saúde da Abrasco.





