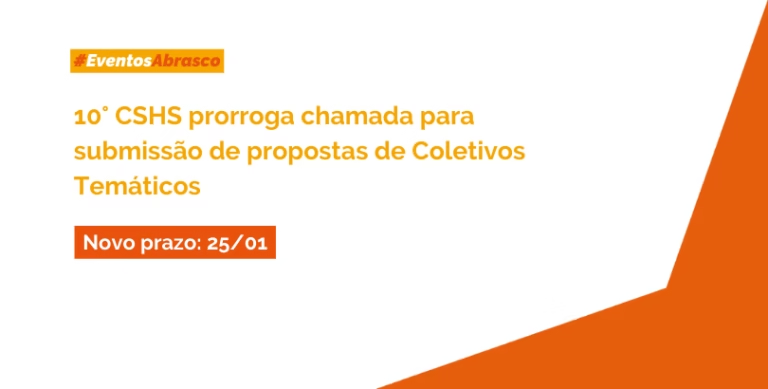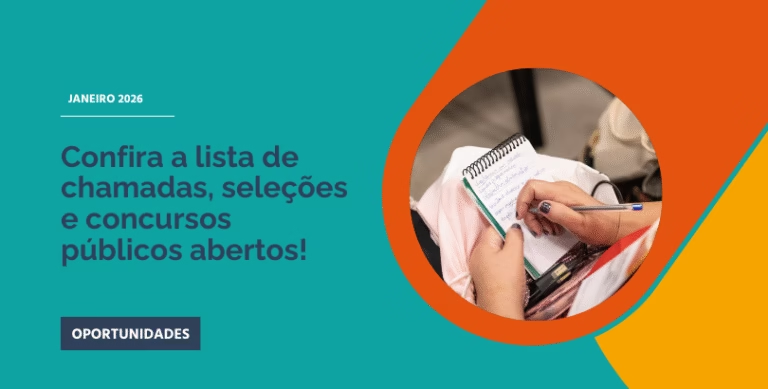Racismo na saúde: nas maternidades do Brasil, a dor também tem cor
“A única coisa que eu consegui enxergar era que a dosagem era de 100 miligramas”, lembra. No prontuário de Michele, está registrada a prescrição via vaginal de duas doses de misoprostol, protocolo do medicamento quando usado para a indução do trabalho de parto. Mas ela relata que, em vez da anestesia que pediu à equipe médica, também foi ministrada a ocitocina sintética, substância comumente usada para aumentar as contrações. A recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que o hormônio seja utilizado, na realidade, no pós-parto para reduzir o sangramento excessivo em mulheres com risco de hemorragia — o órgão considera que a administração sem controle e a qualquer momento antes do parto é uma conduta prejudicial e ineficaz. “Depois que aquilo entrou na minha veia, eu me senti esquartejada. Eu nunca senti uma coisa tão horrível na minha vida. Era uma dor como se eu estivesse levando várias pancadas no abdômen. Meu filho se encolhia de uma forma… Era uma contração horrível. E eu só pensava que iria morrer, ou ele iria morrer. Um dos dois”, lembra.
Michele e Leonardo Brito, seu companheiro, receberam a reportagem da Agência Pública no início de uma tarde de fevereiro, no meio da rotina de pais de um recém-nascido. Pesando 4,5 quilos e 54 centímetros ao nascer, o calmo Leozinho, chamado no diminutivo para diferenciar do nome do pai, não aparenta ter tão poucos dias de vida. “Nem acredito que tive ele”, diz a mãe ao amamentar o bebê, enquanto se recupera da cirurgia e das violências vividas no processo. “Eu ainda tenho algum abalo e tem coisas que também não quero ficar lembrando porque machuca muito”, desabafa. “Eu me sentia desamparada.”
Diagnosticada com sopro e pressão alta, o que caracterizava sua gravidez como de alto risco, Michele tentou internação em ao menos quatro hospitais da região. Entre o Hospital Beneficência, onde já havia tido seus outros quatro filhos, e o Hospital do M’Boi Mirim, decidiu pelo último por ter a autorização da companhia do marido durante o parto — obrigatoriedade já estabelecida pela Lei do Acompanhante, de 2005. Assim que pisou no hospital às 10h05 da manhã, a gestante informou que não queria o parto normal por conta da dificuldade em outras gravidezes.
A autorização para a cesárea veio às 0h20. A todo momento, enquanto implorava pela cesárea e pela anestesia, Michele insistia que ela já havia ultrapassado o limite do seu corpo. Como resposta, ouvia frequentemente: “Mas como? Você teve quatro filhos, dois normais, dois fórceps. Por que você não tenta mais um? Você é forte, vai conseguir”.
A cor da dor
“Mulheres pretas têm quadris mais largos e, por isso, são parideiras por excelência”, “negras são fortes e mais resistentes à dor”. Percepções falsas como essas, sem base científica, foram ouvidas em salas de maternidades brasileiras e chamaram atenção da pesquisadora Maria do Carmo Leal, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
Doutora em saúde pública, ela decidiu pesquisar se esse senso comum resultava em um pior atendimento às mulheres negras, como Michele, durante a gestação e o parto. Em 2017, Maria do Carmo e uma equipe de pesquisadores da Fiocruz — Silvana Granado Nogueira da Gama, Ana Paula Esteves Pereira, Vanessa Eufrauzino Pacheco, Cleber Nascimento do Carmo e Ricardo Ventura Santos — analisaram o recorte de raça e cor dos dados de uma ampla pesquisa nacional sobre partos e nascimentos, a “Nascer no Brasil”, realizada com prontuários médicos de 23.894 mulheres coletados entre 2011 e 2012.
Fruto dessa análise, o artigo “A cor da dor: iniquidades raciais na atenção pré-natal e ao parto no Brasil” examinou, também, a aplicação da anestesia local para a realização da episiotomia — corte feito na região do períneo para ampliar a passagem do bebê em partos vaginais. Os resultados mostraram que, apesar de sofrerem menos episiotomias em comparação às brancas, mulheres negras tinham chances menores de receber anestesia durante o procedimento. “O que a gente encontrou foi que, durante a episiotomia, que por sinal não é mais uma prática que se recomende que seja feita, a chance de a mulher negra não receber anestesia é 50% maior. Isso [o corte] é algo que realmente dói bastante”, pontua a pesquisadora.
Desse grupo de mulheres que receberam o corte no períneo, em 10,7% das mulheres pretas não foi aplicada a anestesia local para a realização do procedimento, enquanto no grupo das mulheres brancas a taxa de não recebimento de anestesia foi de 8%.
A pesquisadora afirma, no entanto, que o número de casos de episiotomias tem caído no Brasil. A diminuição, para Maria do Carmo, é algo a comemorar porque mostra o resultado de políticas públicas como a Rede Cegonha, estratégia lançada pelo governo federal em 2011 que estruturou nacionalmente ações para qualificar o atendimento de mulheres desde o planejamento reprodutivo ao pós-parto. Mas o panorama de episiotomias no país carece de dados. O Ministério da Saúde informou à Pública que não há registros específicos sobre o procedimento por ele ser considerado “secundário ao parto”.
Com relação à anestesia peridural, aplicada para o controle da dor em partos vaginais, a pesquisadora explica que ainda é muito baixa no sistema público no Brasil: “Não chega a 10% das mulheres”.
O estudo da Fiocruz escancarou também outras disparidades raciais no atendimento de mulheres grávidas. Segundo a pesquisa, mulheres negras possuem maior risco de ter um pré-natal inadequado, realizando menos consultas do que o indicado pelo Ministério da Saúde; têm maior peregrinação entre maternidades, buscando mais de um hospital no momento de internação para o parto; e frequentemente estão sozinhas, com ausência de acompanhante durante o parto.
Para a pesquisadora, essas disparidades durante o pré-natal e o parto expressam o racismo estrutural. “Isso é uma questão de racismo, achar que [mulheres negras] são um ser humano diferente, que não sentem dor”, reflete Maria do Carmo. “Não é um problema só do setor de saúde. O racismo é uma questão muito forte na sociedade brasileira, há um maltrato generalizado a essas populações, principalmente de cor negra e indígenas. Mas os profissionais da saúde poderiam fazer coisas para melhorar a abordagem [durante o atendimento]”, conclui.