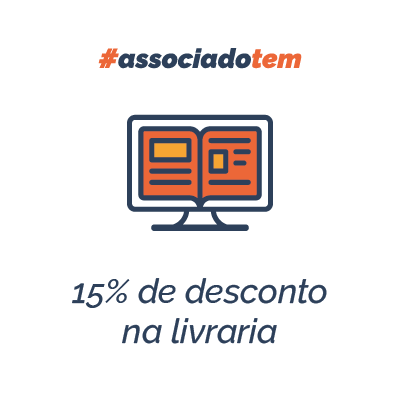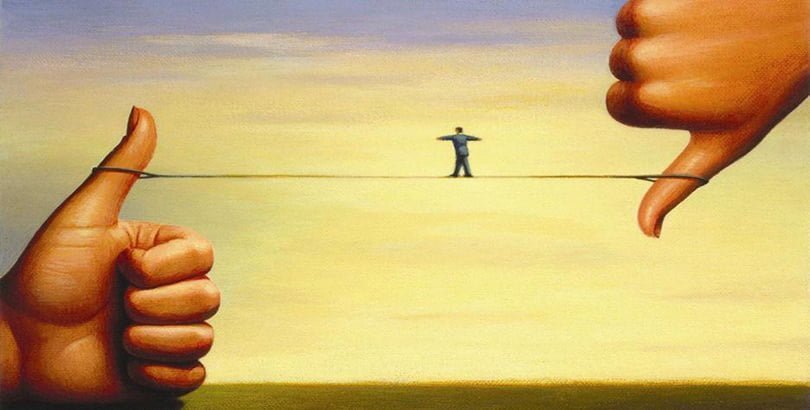
Alcides Miranda * para a Carta Maior
Muitas pessoas andam perplexas com a atual conjuntura eleitoral, afirmando nunca terem vivenciado situação tão inusitada, com polarizações políticas acentuadas e a ascensão de uma onda “conservadora”, contraditoriamente, mobilizada por propósitos de “mudança radical” de “tudo que aí está”. Ascensão encarnada em um personagem que se apresenta como arauto da “moralidade pública”, sendo o próprio, também contraditoriamente, um parlamentar de longa data, cuja trajetória política advém do mesmo status quo que afirma combater.
De fato, se tomarmos como referência as últimas gerações, muitos não vivenciaram pessoalmente situação parecida. Entretanto, se analisarmos o contexto histórico do país, constataremos que situações congêneres já ocorreram em pelo menos duas ocasiões: as eleições de Jânio Quadros (1960) e de Fernando Collor de Mello (1989). Evidentemente que as duas experiências eleitorais referidas, assim como a atual, guardam distinções significativas, todavia, são algumas similaridades que exploro aqui, visando demonstrar aspectos de caráter recorrente. No entanto, creio que a recorrência contemporânea do enredo similar ao do passado implicará em algo bem mais grave, com distinções que necessitam ser melhor analisadas porque, ao contrário do caráter farsesco das aventuras anteriores, um governo Bolsonaro possivelmente nos encaminhará para uma tragédia.
Jânio Quadros desde o início da carreira, como vereador, já encarnava um personagem histriônico e midiático que exaltava a “moralização do serviço público e o combate à corrupção”. Tendo sido eleito depois como deputado estadual, como prefeito do município e governador do estado de São Paulo, notabilizou-se mais por demissões de servidores públicos e medidas contraditórias. Em 1959, como candidato presidencial, buscou aproximação com a União Democrática Nacional (UDN) e apresentou uma agenda de proposições focadas no combate à corrupção e na moralização de costumes. Ele conseguiu encarnar com sucesso eleitoral o personagem de arauto da “moralidade pública” e venceu as eleições apoiado por ampla coligação partidária (PTN-PDC-UDN-PR-PL), obtendo aproximadamente 48% dos votos válidos (não havia segundo turno).
O governo de Jânio Quadros durou cerca de sete meses, tendo sido marcado por idiossincrasias, atitudes centralizadoras, iniciativas de controle e “moralização de costumes” e embates com o Congresso Nacional, inclusive, com a própria “base de apoio” (por exemplo, a UDN, que apoiou a sua candidatura, e rapidamente migrou para a oposição).
Fernando Collor de Mello descende de antiga e tradicional oligarquia brasileira, tendo iniciado a sua carreira política na ARENA, partido da ditadura militar, pela qual foi nomeado como prefeito de Maceió (1979). Em seguida elegeu-se como deputado federal e, já filiado ao PMDB, elegeu-se Governador de Alagoas. Durante o seu governo em Alagoas, Collor ensaiou um enfrentamento administrativo e judicial para reduzir salários altos e desproporcionais no funcionalismo estadual (sendo derrotado em julgamento do Supremo Tribunal Federal), além disso, realizou demissões de funcionários públicos e extinção de cargos em órgãos e empresas públicas. Esse ensaio foi habilmente explorado midiaticamente, sendo Collor consagrado com a alcunha de “Caçador de Marajás” do serviço público, encarnando o mesmo personagem de arauto da “moralidade pública” pela segunda vez.
Para a disputa eleitoral de 1989, Collor ingressou no pequeno Partido da Renovação Nacional (PRN), tendo sido eleito com uma proporção de aproximadamente 30% dos votos no primeiro turno e 53% dos votos no segundo turno. O Governo de Collor durou 21 meses, tendo sido encerrado por sua renúncia, em função da inevitabilidade de sua cassação pelo Congresso Nacional após processo de impeachment.
O terceiro personagem em questão é um militar precocemente reformado com a patente de Capitão, em decorrência de sua participação ativa na chamada Operação “Beco Sem Saída” (1987). Bolsonaro iniciou sua carreira política, elegendo-se vereador do Rio de Janeiro (1889-1990), depois foi sucessivamente eleito como deputado federal, por com progressivas votações Desde 1991, tem sido eleito como deputado federal com progressivas votações por sete legislaturas, período no qual se filiou a oito partidos políticos. ao longo do período (atualmente está no Partido Social Liberal-PSL). Ao longo de sua carreira parlamentar logrou a aprovação de duas proposições como normas legais. Na Câmara dos Deputados nunca foi reconhecido como um articulador político, compondo sempre o chamado “baixo clero”, sendo mais notabilizado por suas bravatas, agressões e confusões (das quais, muitas geraram demandas para a Comissão de Ética).
Distintamente de Jânio Quadros, que se notabilizou por encenar um personagem histriônico e mercurial, ou Collor de Mello, que se notabilizou pela postura pessoal arrogante e impulsiva, Bolsonaro parece autêntico em sua postura autoritária, nas manifestações de mentalidade rasa e obtusa, em suas declarações polêmicas e preconceituosas. Uma autenticidade que tem sido explorada como uma qualidade positiva ao senso comum, na ênfase de distinguí-lo como “antipolítico”, “anti-sistema”.
Três enredos com algumas similaridades e muitas distinções, três personalidades também distintas, mas que encarnam um mesmo personagem arquetípico: o arauto da “moralidade pública”, um descendente distante e enviesado de “Dom Sebastião”, que, mesmo sem sua aura mítica, constituem episodicamente, em torno de si, fulgores carismáticos suficientes para substituir a autoridade dos princípios pela personificação do princípio da autoridade.
Por que tanto Jânio Quadros como Collor de Mello e Jair Bolsonaro, apesar de “políticos de carreira” e de longa data, conseguiram encarnar, cada um ao seu modo, o personagem de outsider e de arauto da “moralização pública”? Muitas interpretações e explicações podem ser feitas a respeito desta questão, no entanto, nenhuma delas pode desconsiderar o significativo ativismo midiático (cada um ao seu tempo) na construção e encenação dos respectivos cenários e enredos eleitorais.
Nos três casos citados também é possível, não sem polemizações, caracterizar tais conversões carismáticas em (sub)tipos do que se convenciona definir como “populismos” ou até mesmo “populismos de Direita”. Não me refiro, evidentemente, ao significado caricatural acerca de populismos e populistas, tão disseminado pela mídia em viés mais adjetivo e na tentativa de desqualificação reducionista de lideranças e experiências complexas. Todavia, importa realçar o entendimento preconizado por Laclau sobre “razões populistas”, ou seja, para além das ações e condutas performáticas, torna-se necessário considerar que muitas identificações políticas não se ancoram aprioristicamente em determinantes estruturais (como classes sociais, luta de classes etc.), mas se constituem a partir de vertentes discursivas contingentes, acerca de experiências sociais e políticas representativas, que, por sua vez, podem ser eventualmente personalizadas em figuras populares.
A própria noção de “moralidade pública” também precisa ser melhor analisada, uma vez que quase sempre tem sido reduzida e aludida aos agentes estatais, sendo a “imoralidade pública” considerada pelos mais diversos “sensos comuns” como uma condição “naturalmente” crônica e atribuída quase exclusivamente ao Estado. O sociólogo Jessé de Souza tem sido insistente e incisivo em denunciar esse viés hegemônico constituído gradualmente pela “inteligência sociológica” brasileira. Considerada a corrupção institucional como um fenômeno perene em nossa história, os seus estigmas e repercussões mais dramáticas foram atribuídos muitas vezes a determinados governos de forma a se manipular situações de desestabilização política e mobilizações de estratos de classe média.
Na história brasileira, a fulguração carismática do arauto da “moralidade pública” tem surgido ciclicamente como alternativa redentora em momentos de esgotamento e saturação das tentativas de transições conservadoras. Ao longo da história de nosso país houve uma sucessão de blocos históricos, períodos caracterizados pela dominação social e política de alianças entre oligarquias detentoras de poder econômico e de hegemonia ideológica entremeados por fases de transição de caráter conservador ou, raramente, regressivo (Figura 1). Em tais arranjos de dominação, os seus protagonistas sempre buscaram inovações adaptativas compatíveis com os intercursos de mudanças históricas inevitáveis, visando a consolidação e legitimação de seus capitais de poder e a reciclagem das respectivas dinâmicas reprodutivas do status quo.
As fases transicionais ocorridas entre os blocos históricos duraram mais tempo e produziram alterações mais significativas do que as fases transicionais ocorridas nos intermédios dos mesmos. As transições entre blocos históricos implicaram em reciclagens de protagonismos e modos de dominação, com ênfase em reformas macropolíticas aparentes e brechas para algumas reformas incrementais reguladas (direitos sociais, direitos civis, políticas públicas etc.). Mudanças “pelo alto”, “revoluções passivas”, “revoluções-restaurações”, “restaurações progressistas” eram termos utilizados por Gramsci para definir o que convenciono denominar nesse texto como “transições conservadoras”, sendo que, segundo o mesmo autor, tais mudanças implicavam na concomitância de estratégias sociais e institucionais de “renovação”, com a assimilação de algumas demandas e realização de reformas sociais e políticas parciais; e de “restauração”, com a reciclagem e atualização dos modos e meios de dominação.
Em outros termos, nos momentos de instabilidade social e política, buscou-se predominantemente processos transicionais conservadores regulados em sua dimensão macropolítica, todavia, com brechas para a interposição de tensões normativas (geralmente constitucionais) cujas reformas incrementais permitiram a progressiva conquista de direitos humanos e sociais, assim como, a inovação ou reforma incremental de algumas políticas públicas focalizadas e compensatórias. No caso brasileiro são inúmeros os exemplos de conquistas sociais engendradas em fases de transições conservadoras: a abolição da escravatura, o voto feminino, a legislação trabalhista, o marco constitucional da Seguridade Social e do Sistema Único de Saúde.
Contudo, em pelo menos duas ocasiões anteriores, já referidas, as transições conservadoras foram substituídas por experiências fugazes de ascensão do personagem arauto da “moralidade pública”. Tão fugazes que ousei denominá-las como “aventuras de populismo moralista” (Figura 1). Surgiram como ondas avassaladoras em mobilizações eleitorais para, em seguida, derivarem na rápida e inexorável descapitalização política de seus protagonistas, ao ponto de sua inviabilidade e destituição. Ambos, Jânio e Collor, não eram “orgânicos” aos blocos históricos hegemônicos (ou instituintes), neste sentido restrito poderiam até ser reportados como outsiders. Assim mesmo, ambos foram considerados pelas oligarquias prepondderantes em suas épocas, como alternativas manipuláveis, ante a inviabilidade eleitoral de suas primeiras apostas e opções.
Nem Jânio e nem Collor se mostraram manipuláveis pelo patronato da Casa Grande, menos por suas predisposições para incorporarem as agendas transicionais da plutocracia nacional e do capital internacional, mais por incompetências e idiossincrasias próprias, além da estreiteza política de seus sequazes mais próximos e grupelhos satélites. Se não eram manipuláveis, muito cedo se tornaram descartáveis, de modo a reciclar as possibilidades para “novas” transições conservadoras.
Mas, em que aspectos a recente ascensão de Bolsonaro sob a pele do repetido personagem ciclíco seria distintiva para com as aventuras anteriores?
Em primeiro lugar, entendo que o fenômeno atual não ocorre somente por saturação de uma transição conservadora, conforme as experiências anteriores, mas em vias de uma transição regressiva que prenuncia um período histórico também regressivo.
A consolidação de um novo bloco histórico mundial requer décadas e suas estratégias de implantação são distintas nos diversos planos, cenários e conjunturas. O neoliberalismo não se reduz a uma política econômica ou a uma ideologia em disputa por hegemonia, mas, sobremaneira, refere-se a uma racionalidade de dominação com ênfase concorrencial predatória e na introjeção de dinâmicas autorreguláveis, a partir do empresariamento do Estado e também dos indivíduos. O que não se altera substancialmente é o fato de que sempre existe uma oligarquia e plutocracia a concentrar os ganhos, decorrentes principalmente da agiotagem dos recursos públicos no contexto atual.
Para um país do capitalismo periférico com a importância do Brasil, a imposição de uma agenda estratégica ultraliberal e neocolonial se tornou inadiável. Estava programada para ocorrer desde o início da década de 1990, com uma feição mais leve e com factibilidade gradativa pela via do mercado parlamentar da “pequena política”; mas, somente no período do governo FHC houve o ensaio de reformas compatíveis, ainda insuficientes. A indução e realização do golpe parlamentar de 2016 visou principalmente agilizar tal imposição e, para tanto, (mais) uma transição conservadora seria insuficiente, daí, porque o recurso a uma transição regressiva.
A agenda estratégica para a consolidação desse plano no país passa por reformas conjugadas: trabalhista, previdenciária, tributária e, principalmente, do regime político. A aposta ideal para a sua condução governamental seria em um agente direto do mercado financeiro (alguém como Meirelles ou Amôedo), mas, em tese realistíca (dado o histórico eleitoral dos últimos 30 anos), seria mais viável a partir de uma candidatura do “Tucanistão”, a qual também foi atropelada e afogada pela “terceira onda”.
Jair Bolsonaro nuca foi um agente “orgânico” ao bloco histórico instituinte, das oligarquias rentistas, mas está sendo considerado como alternativa manipulável para uma transição regressiva, ante a inviabilidade da aposta eleitoral inicial. Assim como Donald Trump ou Rodrigo Duterte (Filipinas) ou Fujimori no passado, guardadas as significativas diferenças entre esses casos e contextos, ele fala e repercute diretamente aos sensos comuns de seu público “conservador”, uma egrégora constrangida pela sensação de insegurança pública e por preconceitos e medos ancestrais.
Em segundo lugar, o “fenômeno Bolsonaro” surge associado intimamente e sinergicamente com a emergência de fascismos sociais e, particularmente, institucionais. Evidentemente eu não me refiro ao sentido caricatural ou adjetivo do termo, mas às consubstancialidades implicadas em um regime pós-democrático em que ocorre o incremento e expansão de medidas jurídicas de exceção, de jurisprudência seletiva e arbitrária (que sempre existiram para determinadas camadas da população), com a manipulação judiciária em ativismo político (Lawfare) orientado por interesses de corporações autoritárias da sociedade civil e política. O golpe parlamentar de 2016 foi desencadeado com as salvaguardas desse tipo de fascismo institucional e a partir daí, observa-se a sua expansão e busca de “naturalização” ideológica (pela seletividade midiática).
A institucionalização de modalidades contemporâneas de fascismos institucionais, seja pela via de intervenções do Lawfare ou de um governo autoritário com legitimidade eleitoral se torna mais viável em países com reconhecidas fragilidades na égide do Direito Público (as distinções entre as atuais conjunturas nos EUA e nas Filipinas são exemplares). Em tal cenário, a tendência seria de ampliação aguda e de “naturalização” de intervenções e medidas de exceção da parte do aparato de repressão (principalmente polícias militares e Forças Armadas), já secularmente especializados nessas práticas.
Parcelas significativas do neopentecostalismo são um capítulo adicional no atual contexto. Conformam um feixe (fascis) nesse arranjo regressivo, com organizações bem hierarquizadas e disciplinadas, de grande penetração nas camadas mais pobres e vulneráveis da população. Nesse meio o exercício de dominação carismática e dogmática não é circunstancial ou eventual, mas consubstancia um tipo de organicidade que demanda agenda própria, calcada no cultivo de preconceitos, na coerção e no controle de condutas morais, assim como, naturalmente, na teologia da prosperidade pastoral. Em tal perspectiva as demandas para a “moralização pública” não têm muito a ver com um ethos social, mas com a ampliação de um regime teocrático (de “Vetus Testamentum”, seria mais apropriado).
A reconhecida inabilidade e intolerância política do novo arauto prenuncia uma intervenção autoritária em larga escala, sob a alegada justificativa de que o atual sistema político (particularmente o Parlamento) seria obstáculo para a viabilidade e consecução de sua tarefa “moralizadora”. Fechar e depois recompor o atual Parlamento seria uma medida festejada por muitos, facilitando ainda mais a imposição de agendas conjugadas: ultraliberalismo neocolonial e conservadorismo neopentecostal. A perseguição de oponentes seria uma decorrência óbvia. Importa realçar ainda, a emergência de grupos e milícias fascistas na sociedade civil, que já atuam sem maiores constrangimentos e que podem servir para propósitos de violência paramilitar.
Em outros termos, as principais distinções acerca da terceira aventura do arauto da “moralidade pública” em terras de tupiniquins e tupinambás tende muito mais para a tragédia, como decorreu com a aventura de Jânio, cujos desdobramentos levaram ao golpe militar de 1964. No caso, da aventura de Collor, houve possibilidade de mais uma transição conservadora (Itamar Franco).
Independemente do resultado do segundo turno da eleição presidencial, independemente da atuação do próprio personagem de ocasião, as condições de polarização e desestabilização induzidas e desencadeadas para a realização do golpe parlamentar de 2016 não deverão se assentar em curto prazo.
Em sendo assim, a incompetência do campo de esquerda em suplantar vaidades e articular uma agenda política propositiva e convergente (não somente eleitoral) lhe reduz as possibilidades de reação em tempo hábil e lhe impõe uma agenda tática de resistências circunstanciais. Em médio prazo, a depender da nova conjuntura, seria possível a inevitável configuração e conjunção política, ainda com ênfase em resistências, mas com a constituição de alternativas estratégicas de disputa em condições adversas.
Mesmo que a aventura desse terceiro arauto seja breve, como as demais, resta-nos a tarefa de (re)compor e viabilizar alternativas estratégicas para uma disputa política mais abrangente, na qual estará em jogo muito mais do um mandato governamental.
*Alcides Miranda é abrasquiano, Professor Associado dos cursos de graduação e pós-graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul