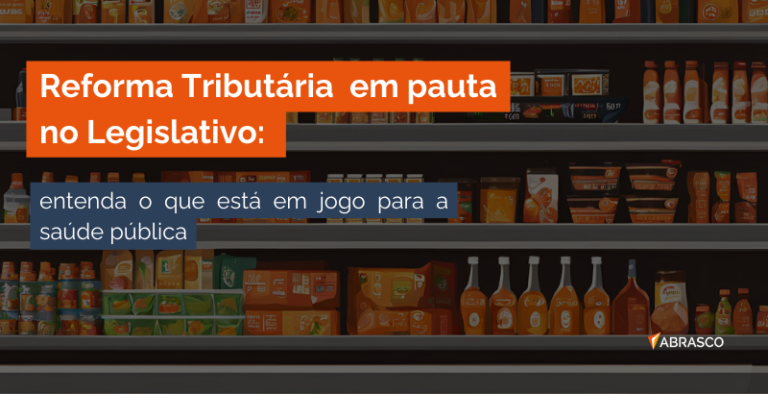Em 1988, o Sistema Único de Saúde nasceu junto com a Constituição Federal e a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – Aids – era entendida como uma sentença de morte. Nos anos seguintes, a onda de mobilização que mexeu com a sociedade brasileira transformou o SUS em realidade; novos tratamentos foram descobertos e novas formas de expressão da prevenção, dos direitos e das liberdades se fortaleceram, entrando também para a história do SUS: patentes internacionais foram quebradas, medicamentos passaram a ser distribuídos nos postos de saúde, campanhas de prevenção difundiram o uso da camisinha como método de proteção e os movimentos pela diversidade sexual conjugavam ações de saúde com a afirmação do direito de amar e de se expressar sexualmente.
No entanto, a dinâmica social deste 2018 parece muito distante das vividas nesses últimos 30 anos. O subfinanciamento do SUS agravou o processo de desmonte da Saúde Pública, a polarização política da sociedade esgarçou parte dos laços de solidariedade, abrindo espaço para o discurso conservador, que se fortaleceu na mesma velocidade do desenvolvimento tecnológico, interditando campanhas de prevenção e conscientização. Se atualmente é possível viver com o vírus HIV e ter qualidade de vida, dispondo de tratamentos com grande eficácia e eficiência, os números da epidemia aumentam.
Um quadro complexo como esse não pode ser reduzido a apenas uma resposta e, para ampliar a compreensão sobre o tema, a Abrasco conversou com Alexandre Grangeiro. Com mais de 30 anos de trabalho e militância na Saúde Pública, o sociólogo coordenou o Disque-AIDS, o Programa DST/AIDS da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo (SES-SP) e foi diretor do Programa Nacional de DST/AIDS entre 2003 e 2004. Atualmente é pesquisador associado do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (DMP/FM/USP) e coordena projeto ‘Combina’, voltado para testagem e conscientização da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), além de fazer parte do Conselho da Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (ABIA). Para ele, a falta de investimentos no SUS e a nova configuração social compõem um efeito danoso e de agravamento ao quadro epidemiológico, sendo necessárias novas respostas para a prevenção e promoção do debate do HIV/Aisds, ao invés do ensurdecedor silêncio dos dias atuais, fazendo com que as novas gerações não saibam lidar com o vírus e mantenham o estigma social aos portadores: “a ação mais intensa de setores conservadores, que têm interditado discussões sobre sexualidade, gênero e direitos em diversas instâncias, tem impedido que a área de saúde consiga limitar essa influência”. Leia abaixo a entrevista na íntegra.
Abrasco: O artigo “Resposta à Aids no Brasil: contribuições dos movimentos sociais e da Reforma Sanitária”, de sua autoria com Lindinalva Laurindo e P.R.Teixeira, é de 2009. Nele, vocês fazem uma análise do papel do movimento da Reforma Sanitária, da construção do SUS e dos movimentos sociais então ligados à pauta gay como elementos-chave para o enfrentamento da epidemia e redução do estigma. Passados 30 anos da construção do SUS, quais mudanças no debate público e social explicam ou ajudam a entender o novo aumento da epidemia?
Alexandre Grangeiro: Paradoxalmente, a maior descentralização da política de Aids para estados e municípios, acentuada no início dos anos 2000, foi acompanhada por um enfraquecimento da resposta nacional ao HIV. Isso ocorreu por diferentes motivos. Com o processo de descentralização houve um grande “desfinanciamento” das ONG, que comprometeu o equilíbrio que existia entre “ação de saúde pública” e as “necessidades e demandas sociais”. Tanto que as principais soluções para o enfrentamento da epidemia, na atualidade, vêm do campo da ciência e da saúde pública e têm dificuldade para encontrar amplos ecos na sociedade. Ao mesmo tempo, temos na sociedade um novo ciclo de consolidação de liberdades e de direitos sexuais. Por exemplo, a noção binária de gênero tem sido paulatinamente implodida e surgido inúmeras novas formas de estabelecer relações afetivas e de experimentar a sexualidade, tanto no contexto das relações hetero como homossexuais. E, sem a participação efetiva da sociedade organizada, as ações de saúde têm tido dificuldade para compreender e incorporar a nova realidade. Por isso, iniciativas que poderiam ter amplo impacto na epidemia, como a PrEP e o tratamento como prevenção, patinam.
Mas não é só isso. Com a descentralização havia uma expectativa de caminhar no sentido da universalização e da equidade, transferindo ações desenvolvidas quase que exclusivamente por ONG para serviços e estratégias de saúde. Isso não ocorreu. No âmbito local, com poucas exceções, valores que excluem populações marginalizadas das políticas púbicas são mais intensos, tanto por parte dos profissionais de saúde como dos gestores. Isso tem levado a uma quase ausência de políticas específicas para homossexuais, profissionais do sexo, jovens, negros etc. no âmbito dos estados e dos municípios; o que tem ocasionado uma maior exclusão dessas populações e uma sensível piora dos indicadores dependentes de intervenção, como o uso do preservativo ou o grau de informação sobre o HIV. Isso tem tornado mais limitada a capacidade do setor saúde para fazer frente à atual tendência de aumento dos casos de infecção.
Por último, hoje observamos uma menor mobilização social para o enfrentamento do HIV. Setores, para além da saúde, têm deixado de atuar. Um dos maiores prejuízos é a redução das ações em escolas, por exemplo. Com isso temos criado novas gerações incapazes de lidar com o HIV, o que ajuda a compreender, em parte, o aumento dos casos nesse grupo. Parte disso tem ocorrido porque, felizmente, a Aids não é uma doença tão grave como há 30 anos.
Abrasco: Nesse mesmo artigo, vocês trazem a formulação de que a solidariedade é/foi um motor do ativismo e de enfrentamento ao estigma. Hoje, há uma nova geração ativista nos movimentos LGBT+ que destaca a identidade e a liberdade de usos e práticas que questionam os modelos hegemônicos e tradicionais, numa postura de forte afirmação e enfrentamento ao status quo da heteronormatividade. Para você, esses novos movimentos e militantes são mais afirmativos do que solidários? Ou não, eles trabalham o tema da solidariedade em novos e outros patamares?
Alexandre Grangeiro: Vivemos hoje uma sociedade polarizada, com a proliferação de grupos conservadores. Esse é um cenário completamente novo para o enfrentamento da epidemia de HIV. Ao longo desses 30 anos sempre houve vozes conservadoras, tanto no campo da saúde, como da religião e mesmo da política. Mas elas nunca foram suficientes para interditar ações institucionais ou influenciar o comportamento das pessoas em relação à prevenção e ao HIV. Ao contrário. Muitas vezes essas vozes se uniram para acolher pessoas afetadas pela epidemia e para mobilizar a sociedade para a prevenção. Isso tem mudado. Hoje, esses movimentos conservadores voltam suas práticas – e que começam a ser efetivas – para inibir políticas, gerar medo nos profissionais e gestores da saúde e criar uma vigilância cotidiana na prática de pessoas. Isso tem pelo menos duas grandes conseqüências negativas para o enfrentamento do HIV: o silêncio institucional gerado por esses grupos conservadores, aumentado o grau de ignorância sobre sexualidade, desejos, práticas sexuais e excluindo políticas e serviços voltados a grupos de alta vulnerabilidade social; e o rompimento dos laços de solidariedade que valorizavam o respeito às diferenças e conferiam dignidade às pessoas e aos grupos sociais mais afetados pela epidemia. Tanto que hoje, por exemplo, observamos um aumento do sofrimento de pessoas que buscam os serviços de saúde para realizar a testagem anti-HIV ou a profilaxia pós-exposição sexual devido ao receio do estigma, da culpabilização e de um potencial isolamento afetivo e social. Esse é o terreno mais fértil para o crescimento da epidemia.
Por outro lado, nesse ambiente de polarização que vivemos, também ganharam dimensão os movimentos sociais que procuram afirmar novas identidades de gênero e a maior liberdade sexual. Por si só, a ação desses movimentos cria um ambiente mais favorável à prevenção do HIV, ao contribuir para eliminar, por exemplo, situações de violência de gênero ou por ódio sexual ou mesmo por aumentar a autoestima e o reconhecimento de indivíduos que viviam em desconformidade com suas identidades, levando a um maior cuidado com a saúde. Esses movimentos, porém, não têm assumido como uma de suas pautas centrais o enfrentamento do HIV. Isso já vinha ocorrendo desde o início dos anos 2000, quando começou um paulatino distanciamento de grupos ativistas gay da agenda Aids. Parte porque era necessário criar um espaço político próprio para questões dos direitos homossexuais, separado do HIV, mas, parte, porque quiseram se distanciar do preconceito que a Aids trazia e traz, colaborando para criar, sub-repticiamente, uma espécie de “aidsfobia” no âmbito de suas ações. De certa maneira, essa “aidsfobia” passou a reproduzir certo silêncio que a Aids tem passado a ocupar dentro da comunidade homossexual, talvez, também, como reflexo de um esgotamento diante do HIV. O problema é que esse grupo não deixou de ser afetado pela epidemia, ao contrário. Os números mostram que homossexuais estão sendo mais afetados do que em qualquer outro momento da epidemia. Assim, esse silêncio ou a “aidsfobia” acabam rompendo um dos sustentáculos da resposta brasileira ao HIV, que são as vozes dos grupos afetados pela epidemia.
Abrasco: A maior disponibilidade de novos medicamentos e a manutenção das taxas a níveis quase imperceptíveis na população em tratamento gera uma nova experiência com a doença, principalmente entre os jovens. Comumente, a disseminação das plataformas digitais de relacionamento também é apontada como um elemento dessa nova experiência, com enfoques na imprensa que variam entre um certo tom fatalista e culpabilizador dos jovens a um tom de excessivo relativismo, como se só o fato da nova experiência apagasse o peso da epidemia no sistema de saúde. A junção desses elementos constrói um cenário facilitador e pouco promotor da prevenção?
Alexandre Grangeiro: As políticas de prevenção ao HIV, exitosas nas décadas iniciais da epidemia, tornaram-se um pouco anacrônicas à luz dessas novas dinâmicas sociais e dos novos contextos das relações sexuais. Essas políticas se basearam, em grande parte, num “disciplinar” da prática sexual, quer por professar a necessidade de uso da camisinha a qualquer relação sexual, quer por exigir certa racionalidade na escolha de parcerias e de práticas sexuais. Essa disciplina preventiva já havia chegado ao seu limite entorno do final da primeira década dos anos 2000, quando a proporção de uso de camisinha atingiu os seus maiores índices, passando a reduzir paulatinamente desde então. Obviamente, isso não significa que a camisinha está obsoleta como estratégia preventiva. Ao contrário, é ainda o método preventivo mais aceito e com maior acesso. Porém, não podemos desprezar que, para parte da população brasileira com prática homo e heterossexual, persiste uma cultura que relaciona a camisinha à redução do prazer e dos vínculos afetivos. Isso tem ganhado maior dimensão com a intensificação de um movimento de afirmação de identidades e de liberdade sexual.
Precisamos ser pragmáticos no âmbito da saúde pública e trabalhar com essa nova realidade, buscando formas de estabelecer políticas preventivas que dialogam mais com o prazer e com a cultura existente. Especialmente no momento em que a Aids não é mais aquela grave doença que conhecemos nos anos de 1980 e de 1990, quando marcava os rostos e os corpos das pessoas. Novamente: é necessário ser pragmático. Felizmente, para as novas gerações e numa representação social mais atual, o HIV é uma infecção tratável, que não marca mais suas vítimas de forma visível. Isso não deve diminuir a importância que damos à doença. Do ponto de vista de saúde pública, o viver com o HIV tem implicações sérias, reduz a expectativa de vida, altera agudamente o cotidiano das pessoas afetadas, exige volumosos recursos da saúde para o tratamento e tem impacto negativo na economia. Agora, pragmaticamente, se ela tem uma menor gravidade, especialmente na sua representação social, não podemos esperar que medidas preventivas que disciplinam fortemente a sexualidade e o prazer tenham o mesmo êxito que teve no passado.
Abrasco: Há setores conservadores que querem reforçar que a profilaxia pré-exposição (PrEP)não valoriza a prevenção, mesmo com todo o reforço por parte do programa da importância de continuar usando o preservativo. O que tem impossibilitado a consolidação de um novo olhar para a prevenção?
Alexandre Grangeiro: Nunca tivemos, como hoje, um número tão grande de métodos preventivos do HIV, que permitem se adequar a diferentes situações e perfis de pessoas. Existem os preservativos, a testagem anti-HIV, a opção por práticas sexuais com baixo risco de infecção, as profilaxias pós- e pré-exposição (PEP e PrEP) e o tratamento como prevenção. Esse último, aliás, talvez seja o conhecimento dessa última década que mais revolucionou a maneira que enxergamos HIV, ou seja, de que pessoas infectadas sob tratamento efetivo com antirretrovirais, o que significa ter inibido a reprodução do HIV no organismo, deixam de transmitir o vírus. A incorporação desse conhecimento pode contribuir de forma decisiva para interromper a cadeia de transmissão do HIV, melhorar a qualidade de vida sexual de pessoas com HIV, que deixam de levar consigo o medo de infectar alguém, e reduzir o estigma e a discriminação social da doença. Isso adicionado à PrEP – o uso diário de antirretrovirais por pessoas não infectadas para evitar o HIV -, que é um método seguro e com alto grau de proteção, pode ser alternativa consistente para quem não quer ou não consegue usar o preservativo como método preventivo. Enfim, métodos tão diversos quanto as diferentes formas de exercer a sexualidade e ter prazer.
Mas, claro, há desafios. Esses conhecimentos sobre os novos métodos preventivos foram produzidos à distância da vida cotidiana, têm sido vistos com reservas por parte dos movimentos sociais e suscitam outros preconceitos e reticências. Vejamos: para parte das pessoas prevalece uma cultura que não valoriza ou não aceita o uso de medicamento para a prevenção; os antirretrovirais são ainda vistos como aqueles primeiros medicamentos da década de 1990, com efeitos adversos muito graves e com pouca tolerância para o uso; setores apontam nessas estratégias preventivas interesses da indústria farmacêutica; e alguns dizem que esses métodos são para pessoas promíscuas, descuidadas com a saúde e que incentivará um sexo desprotegido. Com isso, pessoas que usam PrEP, por exemplo, têm relatado situações de estigma e preconceito por pares sexuais e ciclos de amigos; profissionais de saúde têm se negado a prescrever PrEP para pessoas com alto risco de infecção e a esclarecer pessoas infectadas sob tratamento que deixaram de transmitir o vírus; e serviços de saúde ainda não mudaram sua organização para ofertar esses métodos. A conseqüência é que esses métodos têm sido usados por poucas pessoas com alta motivação para a prevenção, com maior nível de escolaridade e com acesso aos serviços de saúde, aumentando as disparidades com aqueles que estão no extremo da vulnerabilidade social. Estamos desperdiçando oportunidades, enquanto a epidemia cresce.
Se olharmos para o passado, podemos encontrar soluções. O uso de medicamentos, notadamente a pílula anticoncepcional, foi capaz de consolidar novas relações de gênero e uma maior liberdade sexual. E as iniciativas preventivas do HIV foram capazes de mudar uma cultura de resistência ao uso do preservativo e massificar seu uso em patamares inimagináveis. Mas essas situações ocorreram graças a um forte ativismo social e a altos investimentos no campo da saúde. Para isso, é esperada uma ampla liderança do SUS, com o fortalecimento de suas diferentes instâncias e o aumento de financiamento.