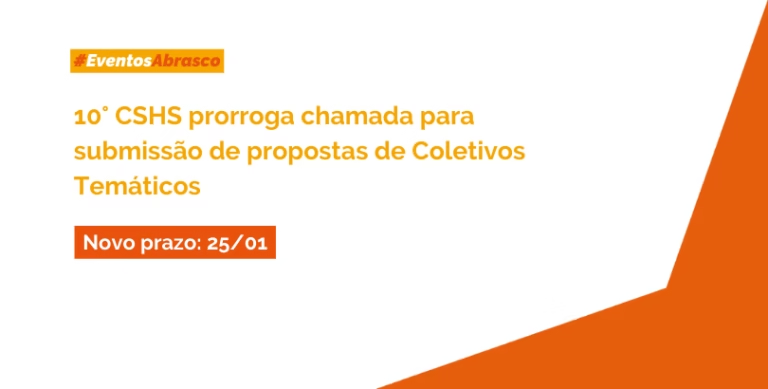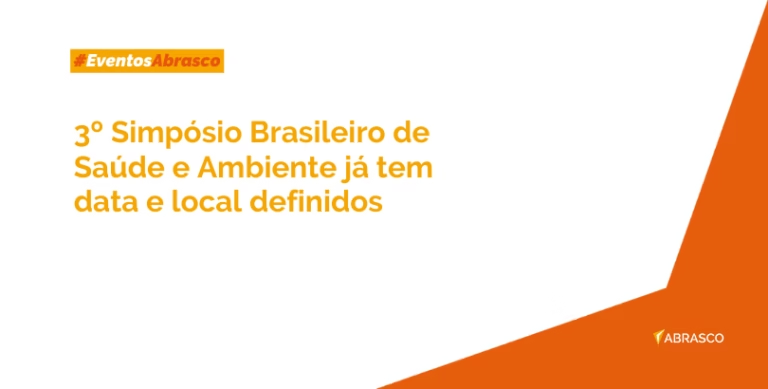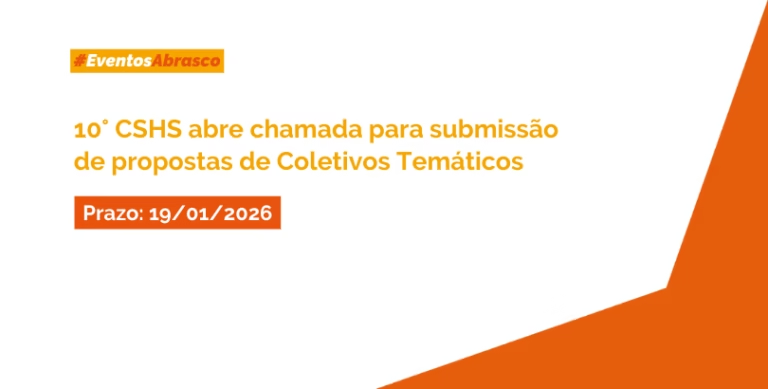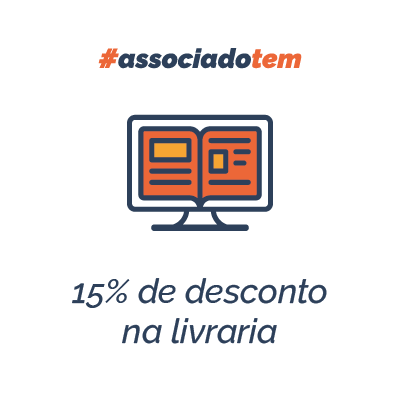O Grande Debate Pensamento crítico, emancipação e alteridade: Agir em saúde na (ad)versidade, realizado na noite da segunda-feira, 10 de outubro, pôs a plateia do sétimo Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde (7º CBCSHS) para pensar. A partir de perspectivas teóricas bem distintas, Paulo Henrique Martins, professor titular de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); Kenneth Camargo Júnior, professor associado do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IMS/Uerj) e Luiz Augusto Passos, professor aposentado e membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso (PPGE/UFMT), mostraram que o pensamento que se quer realmente crítico precisa ser constantemente reinventado e alargado, constituindo-se matéria-prima múltipla. Tatiana Gehardt, professora associada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e presidente do Congresso, coordenou a sessão.
Convidado de honra do 7º CBCSHS, Martins deu prosseguimento às ideias apresentadas no dia anterior na conferência Epistemologias do Sul e seus impactos sobre as ações e políticas em saúde no Brasil, aprofundando suas análises sobre os mecanismos da “colonialidade dos saberes” na produção intelectual à brasileira. “É uma contradição percebermos que toda uma produção de pensamento que se reivindica crítico e emancipador estar ainda tão preso na colonialidade”, antecipou.
Martins recuou no tempo e localizou na implementação dos primeiros programas de formação de doutores no exterior a marca indelével dessa colonização do pensamento acadêmico brasileira. Mestre pela Universidade de Paris I (Pantheon-Sorbonne) em 1979, Martins faz a crítica da geração da qual ele mesmo faz parte. “Fui aluno de Castoriadis e tornei-me amigo de Alain Caillé. Tive aulas, trabalhei diretamente com mestres e sábios fundadores da modernidade e fiz minha parte neste processo, ajudando a formar pesquisadores, reproduzindo conhecimentos adquiridos lá fora e replicados por diversos grupos de pesquisa aqui dentro”, rememorou.
Passados quase 50 anos, o processo cristalizou-se e gera efeitos sensíveis na formação e produção acadêmicas. Com dados de Gabriela Falcão de Almeida, doutoranda do PPGS/UFPE, o sociólogo mostrou que os autores mais citados nas ementas da cadeira Teoria Sociológica ensinadas nos 36 PPGs que a oferecem como disciplina obrigatória são representantes das epistemologias do Norte. No topo do ranking, entre 23 e 13 citações, bastiões como Giddens, Bourdieu, Habermas, Foucault, Elias e Goffman. Os brasileiros Florestan Fernandes e Octavio Ianni só vão aparecer, respectivamente, nas 21ª e 26ª posições, com duas citações cada. “Essa é uma evidência que mostra como a colonialidade também vem revestida de uma hierarquia moral. Por mais que Florestan Fernandes tenha sido brilhante e eclético, fica o peso de um conhecimento regional”, destacou Martins.
A contestação dessa visão eurocêntrica e universalista de modernidade vem ganhando força no meio acadêmico, trazendo a ideia de múltiplas modernidades e o entendimento do conhecimento como produto que emerge das fronteiras linguísticas e epistemológicas, valorizado a partir da experiência do autor e da vida, ao invés de privilegiar a reprodução de métodos e de teorias. Para Martins, essa mudança de perspectiva problematiza o conceito de tradução, deslocando-o de uma visão meramente técnica para uma dimensão cultural e simbólica, marcada pela ritualização. “É uma ritualização que rejeita o método teórico, mas passa a buscar formas e vivências que tenham o mesmo êxtase das primeiras experiências. Isso é feito em um mundo transnacional, provocando uma reconstrução dos saberes e e deslocando práticas e sentidos, promovendo novas simbologias e redes neurais para assim libertar a criação do mundo para os novos interpretes”, sinalizou o professor ao fim de sua fala, num diálogo com a obra Legisladores e intérpretes, de Zygmunt Bauman.
Natureza e experiência na ideologia neoliberal: Os processos de legitimação e deslegitimação da produção científica pelos diferentes campos dos saberes e o papel do pensamento crítico da Saúde Coletiva nessa configuração foram os artifícios conceituais que Kenneth Camargo Jr. trouxe para o Grande Debate. Ele retomou o Caso Sokal e a abordagem de Ian Hacking, autor de A construção social do quê? para mostrar como a lógica produtivista construída está a serviço de um modo de produção do conhecimento extremamente competitiva e mercantilizada. “Hacking critica o pouco rigor do chamado ‘construcionismo social’, mas ao mesmo tempo é simpático às suas teses. Segundo ele, toda forma de construcionismo tem em comum o fato de ser iconoclasta, crítica do status quo. Mostrar que algo é construído, contingente, que tem uma história é mostrar que esse algo poderia existir de outra forma ou mesmo não existir. Hacking vai além e diz que toda tese construcionista tem como ponto de partida a ideia de que seu objeto de discussão, tal como existe, é intolerável e deveria ser substituído ou abolido”, explicou.
Para o professor do IMS/Uerj, o pensamento colonizado está para além das nações, seus autores e centros de saber, sendo acionado pelo neoliberalismo no processo de substituição da discussão política pela econômica. “Essa substituição é apresentada pelo consenso hegemônico como uma construção teórica única, como se tivesse vencido, enquanto sabemos que é quase um golpe de estado aplicado sobre as diversas teorias econômicas. No atual estágio, o neoliberalismo não se coloca como ideologia, mas quase como uma natureza das coisas autojustificadas e de maneira rasa, como um simples fechamento de contas, como apontou recentemente Georges Monbiot, colunista do jornal britânico The Guardian”.
Ele fez questão de resgatar Bruno Latour em “Has Criticism Ran Out of Steam?“, um artigo de 2004, para destacar que ferramentas críticas produzidas e defendidas pelo espectro à esquerda do pensamento social foram capturadas pelo outro lado do espectro político, sendo utilizados de forma reversa, dando como exemplo recentes manipulações de dados pela indústria do tabaco na tentativa de sepultar pesquisas sérias e semear dúvidas. “É necessário termos o pensamento crítico sobre a crítica, relativizar tantos relativismos que põem à margem valores éticos importantes para não cairmos em armadilhas de alguns movimentos da saúde que questionam o suposto saber da ciência. Nenhum desses saberes é tão autoritário como pintam, e sim, sua desconstrução, quando correta e bem apontada, traz possibilidade de novas produções e novos olhares”. Lembrou ainda a gravura de Goya, que tem como legenda “o sono da razão produz monstros”.
“Como fica então o papel da expertise do conhecimento científico em relação à prática de um saber democrático?” indagou Kenneth à plateia. Uma possível saída desse dilema é apontada pelo sociólogo do conhecimento Harry Collins, que propôs as noções de expert contributivo, aquele que faz o conhecimento novo, e o expert interacional, capaz de dominar a linguagem de um campo de conhecimento e torná-la acessível a públicos mais amplos. Ainda segundo Collins, devemos evitar de um lado o “fascismo científico”, que tenta justificar toda e qualquer voz autorizada e autoritária, e do outro o seu oposto, o populismo que justifica toda e qualquer prática e/ou produção que emane da sociedade. “Cabe a gente acreditar e trabalhar para a possibilidade do diálogo entre nós e o público, e assim aprender. Vivemos numa sociedade complexa e somos ignorantes sobre muito mais coisas do que aquilo que conhecemos, e isso é bom, pois traz mais pessoas para assumir esse papel de mediação. Se há uma resposta para a valorização do pensamento crítico, é através do diálogo e da conversa”.
A emancipação pelos corpos em comunhão: Coube a Luiz Augusto Passos trazer o enfoque da fenomenologia para pensar se a produção científica pode ser minimamente considerada emancipatória. “Quando olhei o tema desta tarde, me perguntei até onde e o quanto o pensamento que se quer crítico poderia suportar argumentos que atacam sua perspectiva antropocêntrica”, disparou. Para o professor aposentado da UFMT, a noção de emancipação não pode se sustentar sem a ideia de um processo maior que é a própria existência do planeta, “um ato ontológico do qual fazemos parte, mas não somos os únicos.”
Para ele, essa distinção traz uma quase impossibilidade de emancipação, dada a forma agressiva que historicamente os homens obrigam a natureza a responder o que querem. Essa ação intimidatória e exploratória parte de juízos de valor em voga desde o movimento iluminista, como as ideias de civilização e barbárie e da divisão sexual do trabalho. Uma marca que atravessa todos os campos do mundo, até mesmo os sistemas mitológicos mais tradicionais. “Passagens inteiras dedicadas a Heloin, a ideia feminina de deusa que traz o perdão e a ternura foram substituídas pela ideia de Javé, um deus mau humorado, legalista e normatizador. Isso é uma marca de que as tradições e os mitos foram redesenhados em função do machismo”.
No cabo da construção de um mundo realmente novo e que ultrapasse os paradigmas da modernidade, a compreensão da diversidade não pode ser meramente retórica e normativa, mas sim produzir compreensões que não normatizem o corpo e que respeitem as formas de vida como são, o que Passos conceituou como “carnalidade”.
Para o professor, toda a carne está em relação direta com a existência, o que as confere diversidade ao invés da ideia de igualdade. “A existência nos exige esse diálogo entre o corpo próprio que somos com os demais corpos que compomos. Logo, não existe objetos sociológicos externos, mas sim interações entre as singularidades que mantêm processos de comunhão. Não estamos isolados, há pontes de comunicação”, explicou ele, relacionando ideias de Merlau Ponty e de Paulo Freire aos seus estudos sobre a Homeopatia Popular, conhecimento e prática adotados no Mato Grosso que radicalizam a percepção da constituição humana por princípios ativos. “Nas aldeias onde trabalho essas coisas não são estranhas. Há consciência de que a nossa vida não se basta só. Isso é uma ideia dos ocidentais, fortalecida pelos iluministas e que é repetida à exaustão nos livros que deixamos nas estantes de nossas casas e que só demostram nossa imensa solidão. A homeopatia na qual acredito faz buscar a identidade nas coisas que nos cercam, municiando-nos com outros dons do mundo, o que constitui uma natureza própria e uma estratégia de emancipação”.