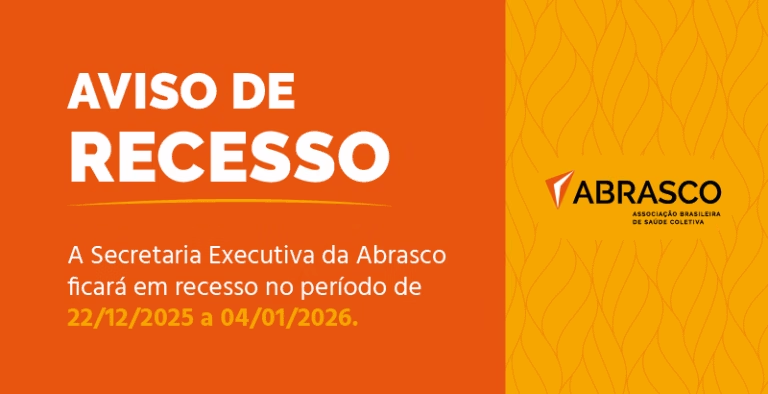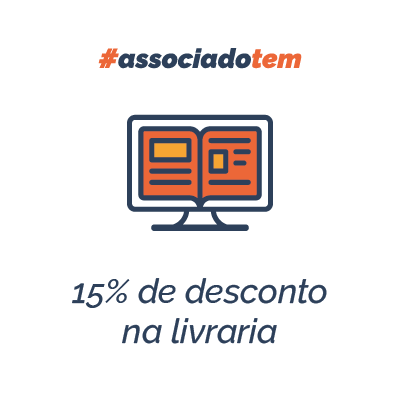A Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) tem exercido desde sua criação em 1979, destacado papel na construção do Sistema Único de Saúde (SUS). Isso vem acontecendo através de ativa participação nos fóruns de Ciência e Tecnologia e no Conselho Nacional de Saúde, além da construção de espaços de negociação, mantendo voz ativa na formulação e no monitoramento das políticas públicas em saúde e em ciência e tecnologia em saúde. O Grupo de Tabalho em Saúde Indígena da Abrasco foi constituído em 2000 e desde então vem participando da Comissão Intersetorial de Saúde Indígena (CISI/CNS) e de outros fóruns em prol da saúde dos povos indígenas.
Historicamente, tanto de uma perspectiva de políticas em saúde pública como de inserção em sistemas de informação em saúde, os povos indígenas no país permaneceram praticamente “invisíveis” e relegados ao esquecimento. Essa exclusão resultou em grande defasagem para estes povos em relação às conquistas alcançadas pelo restante da população no tocante aos indicadores de saúde mais básicos nas últimas décadas. Segundo dados do Censo Demográfico de 2010, a população indígena no Brasil totaliza aproximadamente 890 mil pessoas, o que equivale a 0,4% da população nacional. Do ponto de vista sociocultural, essa população corresponde a cerca de 300 etnias distribuídas por todo o território nacional, falantes de aproximadamente 200 línguas distintas e detentoras de sistemas sociopolíticos e culturais próprios.
As informações disponíveis para os povos indígenas os colocam em situação de extrema desvantagem em comparação a outros segmentos da população brasileira. Por exemplo, a partir do Censo Demográfico 2000, aprendemos que a taxa de mortalidade infantil indígena (51,4 óbitos de menores de ano para cada grupo de mil nascidos vivos) era expressivamente mais elevada do que a taxa nacional (30,1) (obs.: o IBGE ainda não divulgou as estimativas de mortalidade infantil a partir dos dados do Censo 2010). Essa cifra supera inclusive a de outros grupos reconhecidamente vulneráveis como as crianças “pretas” e “pardas”, entre as quais foram registradas taxas de 34,9 e 33,0 por mil, respectivamente. Para um período mais recente, um mergulho nos dados do SIASI, gerenciados pela SESAI, revela um cenário não menos preocupante, pois um terço dos DSEI registrou mortalidade infantil superior à média nacional indígena de 42 óbitos por mil nascidos vivos, em 2012. Diversos estudos realizados por demógrafos e antropólogos em comunidades indígenas específicas nos últimos anos também apontam para um quadro marcado por elevadas taxas de mortalidade infantil em comunidades indígenas de todo o país.
O I Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas, realizado pela ABRASCO em 2008-2010, com financiamento da FUNASA/Vigisus II e Banco Mundial, constitui um marco para a saúde coletiva brasileira. Isso porque, pela primeira vez, os indígenas foram contemplados em uma pesquisa de abrangência nacional, que teve como foco as crianças menores de cinco anos de idade e as mulheres em idade reprodutiva. O Inquérito revelou que as condições gerais de habitação e saneamento nas aldeias indígenas estão muito aquém do que se observa para o restante da população brasileira. Por exemplo, apenas 5,9% dos domicílios indígenas possuem sistema de esgotamento sanitário adequado, sendo que, na região Norte do país, 91% dos domicílios possuem apenas fossas rudimentares. Cerca de um quarto das crianças indígenas apresentam desnutrição crônica e mais da metade sofrem com anemia. Em contraste, segundo pesquisas nacionais recentes, as prevalências de desnutrição crônica e de anemia nas crianças brasileiras não indígenas são de 7% e 21%, respectivamente. Diarreia e infecção respiratória aguda foram causas frequentes de internação de crianças indígenas no ano que antecedeu o Inquérito, e destaca-se que aproximadamente um quarto das crianças investigadas tiveram diarreia na semana anterior à realização da pesquisa. Para as mulheres, o Inquérito revelou ainda um cenário marcado pela transição nutricional, onde se registram elevadas prevalências de obesidade, hipertensão arterial e anemia, além de baixas coberturas de pré-natal, apesar de as mulheres indígenas apresentarem elevadas taxas de fecundidade total.
Considerando esse complexo cenário de desigualdades, é imprescindível que, nos atuais debates sobre a situação de saúde dos povos indígenas no Brasil, reflitamos de forma comparativa de modo a situar os parâmetros dos indígenas no âmbito nacional. Inquestionavelmente a sociedade brasileira tem uma importante dívida para com os povos indígenas.
O Brasil tem assumido diversos compromissos políticos internacionais, como a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e os Objetivos do Milênio da Organização das Nações Unidas (ONU), que tocam diretamente na questão indígena. Tais compromissos demandam esforços por parte dos governos e da sociedade civil para o aprimoramento contínuo das políticas dirigidas aos povos indígenas com vistas à melhoria das condições de vida e trabalho, à redução da morbi-mortalidade por doenças de elevada ocorrência e ao fomento de alternativas para o desenvolvimento sustentável.
Os princípios e diretrizes do SUS, em consonância com o compromisso ético com as minorias étnicas, orientaram a formulação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, fundamentalmente buscando a equidade, na tentantiva de romper com o ciclo perverso das desigualdades injustas e evitáveis. A superação das barreiras de acesso demanda organização da rede para atender às especificidades culturais dos indígenas e às características de ocupação de seus territórios, o que corrobora a necessidade de um subsistema específico para esses povos. A implementação do Subsistema pela Lei 9.836/1999 (Lei Arouca), fruto da luta do movimento indígena e indigenista nas últimas três décadas, propiciou a extensão de cobertura a essas populações, no âmbito da política nacional de saúde no Brasil.
No entanto, a implementação do subsistema de saúde indígena tem sido incapaz de assegurar a prestação plena e qualificada da atenção primária à saúde. Tem se caracterizado pela fragmentação das ações e pela tímida atuação intersetorial, que resultam numa redução insatisfatória dos índices de desnutrição, pertsistência da insegurança alimentar, precárias condições de saneamento e situação de saúde desfavorável em comparação aos outros brasileiros. Esse quadro evidencia a persistente dificuldade em garantir a integralidade da atenção aos povos indígenas e a superação das barreiras de acesso ao SUS.
O processo de gestão do subsistema de saúde indígena enfrenta os problemas semelhantes aos apontados para o SUS como um todo nos debates da 13ª Conferência Nacional de Saúde, a saber: insuficiente clareza no desenho e objetivos da estrutura organizacional; heterogeneidade, fragmentação, tensão e conflito de competências entre os diversos âmbitos de gestão; fragilidade institucional para gestão monitorada de serviços e recursos; dificuldade de articulação intersetorial e outros.
Tais problemas mais gerais são potencializados pela falta de diretrizes claras e práticas efetivas de gestão do subsistema que têm, entre suas singularidades, a missão de gestão e execução das ações de saúde pelo nível federal no contexto de um SUS que caminhou pela via da municipalização. Por outro lado, a gestão federal da política indigenista é uma conquista a ser preservada, dada a história de violência e conflitos territoriais que ameaçam os povos indígenas em todo o país. Tal contexto, complexo e matizado, exige iniciativas específicas de pactuação e regulação das interações entre o subsistema federal de saúde indígena e outros níveis de gestão estadual e municipal com vistas a efetivar a institucionalização do subsistema – ainda frágil e insuficiente frente às necessidades – e garantir o acesso indígena à rede de referência, necessários à provisão da integralidade da atenção.
A qualidade e a efetividade da atenção em sistemas de saúde são fortemente dependentes da organização e gestão da força de trabalho e das linhas de cuidado nos distritos sanitários especiais indígenas. Tais dimensões da gestão também são problemas que demandam atenção urgente, dado que não se obteve, até o momento, alternativas para superar a precarização dos vínculos trabalhistas voltados para a oferta de atenção regular nas aldeias, superando o modelo campanhista ainda predominante no subsistema de saúde indígena.
A Abrasco, diante do exposto, reitera seu compromisso com o respeito aos direitos constitucionais dos povos indígenas no Brasil, expressos na garantia da integridade de seus territórios e de sua cultura, acesso às políticas sociais e efetiva participação nos espaços decisórios da política indigenista. A ABRASCO apoia o direito dos indígenas à atenção diferenciada à saúde e conclama a efetiva implementação do Subsistema com qualidade e sensibilidade à diversidade cultural.
Texto elaborado pelo GT Saúde Indígena no período de16 a 18 de setembro de 2013 – Participantes: Ana Lúcia Escobar (Univ Fed de Rondônia), Ana Lúcia Pontes (Escola Politécnica/Fiocruz), Luiza Garnelo (Fiocruz-Manaus), Andrey M. Cardoso, Ricardo V. Santos, Carlos E.A. Coimbra Jr. e Paulo C. Basta (ENSP/Fiocruz).