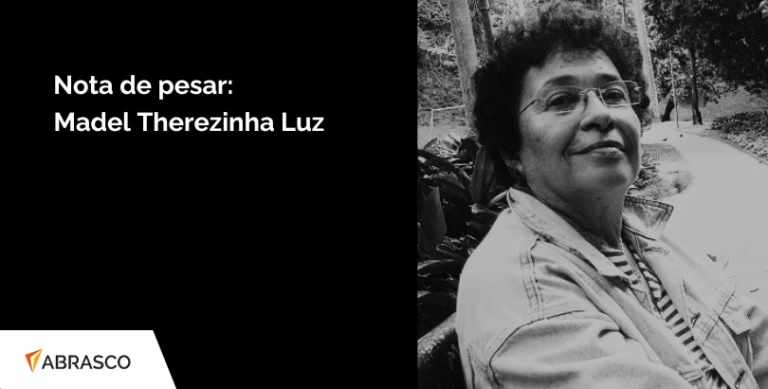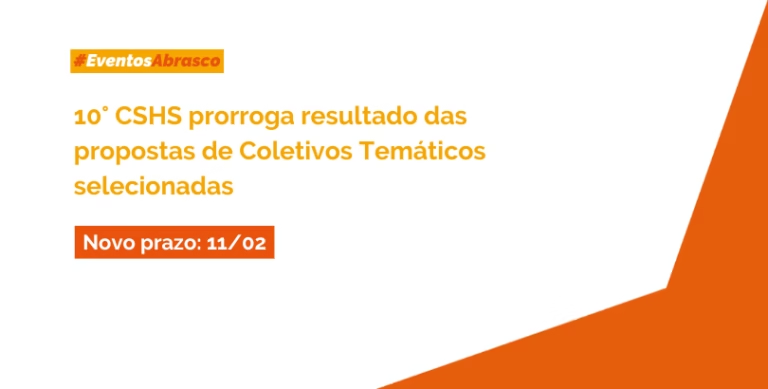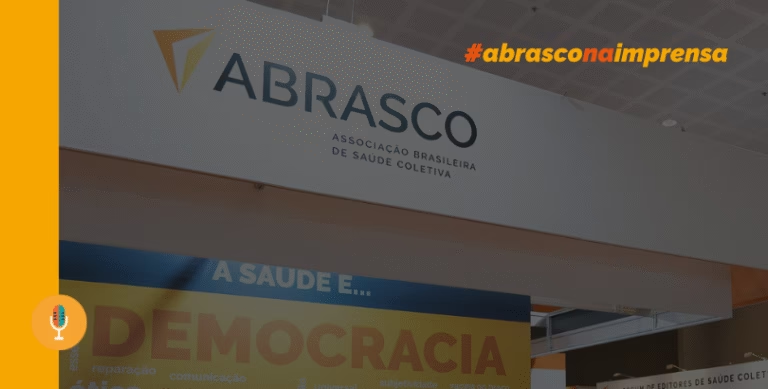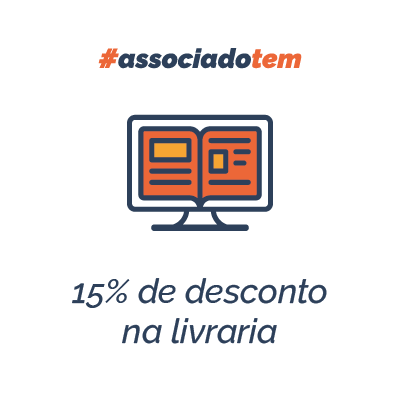O Simbravisa nasceu num momento de esperanças renovadas de mudanças na área de vigilância sanitária, no contexto de um conjunto de desdobramentos que seguiram a reforma institucional na esfera federal, com a criação e estruturação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
O desenvolvimento da vigilância sanitária no Brasil relaciona-se com diversos processos econômicos, sociais e políticos no curso do desenvolvimento do país, de embates entre as forças dos diversos segmentos e as contradições nas relações sociais produção-consumo, especialmente no âmbito da saúde. O movimento de dinamização da referida área foi impulsionado por processos oriundos da esfera econômica e da esfera social, de processos do âmbito do SUS, relativos à organização e descentralização político-administrativa dos serviços e ações de saúde. Este processo tem sido acompanhado de um debate sobre a redefinição e organização das práticas de saúde na perspectiva de mudanças no modelo de atenção, na busca da integralidade das ações, visando resultados positivos na situação de saúde.
Reforma Sanitária e a VISA
De forma o mais sintética possível, com base em produção autoral e de alguns autores, que, direta ou indiretamente se ocuparam do tema, cabe citar alguns marcos da trajetória desse componente da saúde, historicamente pouco valorizado, marcos que se tornaram mais visíveis a partir dos primeiros anos da década de 1970, num contexto de reorganização das bases sociais e políticas do governo militar e de intervenção nas políticas sociais.
No plano internacional, havia um crescimento de preocupações com a legislação sanitária e no plano interno, ocorria expressiva movimentação na área farmacêutica, um fator determinante de alterações na legislação e organização da vigilância sanitária. Nesse contexto, teve início um processo de revisão da legislação sanitária e a produção da “legislação moderna”, que introduziu novos conceitos, alterou práticas de controle sanitário, inicialmente no âmbito do comércio farmacêutico, com a Lei 5.991/73.
O processo de revisão da legislação sanitária, conforme os registros de Hélio Dias, assessor jurídico do Ministério da Saúde por muitos anos e um dos pioneiros na construção do Direito Sanitário, contou com recomendações do Plano Decenal de Saúde das Américas e da III Reunião Especial de Ministros de Saúde das Américas (Santiago do Chile, 1972) que também recomendou a realização de um encontro de consultores e assessores jurídicos dos ministérios de saúde dos países da A. Latina. Com o objetivo de gerar clareza conceitual sobre as funções do sistema legal e de ampliar o conhecimento acerca dos problemas na área, o encontro veio a ocorrer em 1973, em Washington (USA), sob o patrocínio da Organização Pan-Americana da Saúde.
Em meados da década de 1970, o consumo de medicamentos no Brasil alcançou a 7ª. posição no mercado mundial, fato relacionado por estudiosos da matéria, entre outros fatores, ao crescimento explosivo da medicina previdenciária, enquanto isso, o modelo de controle de medicamentos e insumos farmacêuticos e da respectiva legislação recebia críticas de produtores e especialistas. O próprio Ministério da Saúde chegou a reconhecer, através de documento elaborado por sua assessoria jurídica, que a legislação, desatualizada e incompleta dificultava o controle sanitário, pelo Estado, o que desacreditava a indústria farmacêutica no país e ainda, que havia falta de clareza nas competências administrativas nos planos federal e estadual, ensejando conflitos e perplexidades.
Num período de muitas discussões sobre a questão dos medicamentos no contexto internacional, sob influência da OMS/OPAS, de exame da utilização dos medicamentos nos aspectos econômicos e iatrogênicos e, no país, de críticas às políticas governamentais de saúde e sobre a estrutura do controle sanitário que se mostrava incapaz de atender as necessidades sanitárias e as demandas do setor produtivo, foi instalada em 1975, uma Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara dos Deputados, a CPI do Consumidor. Esta CPI trazia sérias denúncias de práticas abusivas das indústrias farmacêuticas, como também das limitações do órgão federal encarregado do controle sanitário e provocou impacto na opinião pública. Nesse contexto foi encaminhado ao Congresso, pelo Executivo, o antiprojeto da Lei 6360/76, que antes de sua aprovação, sofreu fortes pressões das indústrias.
Esta lei conformava a base legal do controle de diversas categorias de produtos do complexo médico industrial e químico farmacêutico e avançou no processo de construção normativa da proteção da saúde. Introduziu novos conceitos, novas práticas e instrumentos para o controle sanitário; incluiu e foi além do conceito de fiscalização e introduziu o termo vigilância sanitária com sentido abrangente, numa concepção de ação de saúde permanente, como atividade rotineira dos “órgãos” de saúde, como um conjunto de atividades integradas em vários níveis de “um sistema”.
Além da modernização da legislação sanitária, também ocorreu, em meados da década de 1970, uma reorganização administrativa no setor saúde, no processo de modernização do aparato do Estado sob o lastro do II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND 1975-1979), que pretendia a consolidação de uma sociedade industrial moderna e um modelo de economia competitiva. A reorganização do setor saúde apresentou-se como parte das tentativas de resolução das crises do setor, quando as políticas de saúde eram objeto de críticas, devido ao agravamento das condições de saúde num contexto de inflexão da economia ou o “fim do milagre”.
No processo de reorganização administrativa do Ministério da Saúde a organização institucional do controle sanitário ganhou um novo status com a criação da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária que englobou as funções e atividades do então Serviço Nacional de Fiscalização do Exercício da Medicina e Farmácia (SNFMF) e do Serviço de Saúde dos Portos. Nesse processo o Laboratório Central de Controle de Drogas, Medicamentos e Alimentos foi transferido para a Fundação Oswaldo Cruz, vindo a adquirir uma estrutura moderna e novas funções – o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS).
Essas reformulações, no entanto, não representaram mudanças na estrutura operacional da esfera federal da vigilância sanitária, que permanecia distanciada dos órgãos de vigilância sanitária das demais esferas de gestão, com precariedade dos serviços, deficiência de pessoal e incapacidade para fazer cumprir as normativas inseridas na nova legislação e atender as demandas do segmento produtivo, tanto as oriundas do crescimento do parque produtivo nacional quanto aquelas relacionadas aos bens de interesse da saúde importados.
Em meados da década de 1980, no movimento pela redemocratização do país e pela Reforma Sanitária, com a compreensão da necessidade de ações de vigilância sanitária articuladas nas três esferas de gestão e em contraposição à postura tradicional, centralizadora e autoritária da esfera federal, foi crescendo um movimento político na área com a participação de atores da esfera federal, de órgãos estaduais de vigilância sanitária, além de outros atores, engajados no movimento da Reforma Sanitária. Nesse movimento surgia a postulação de um sistema nacional de vigilância sanitária.
Alguns eventos deste período deixaram suas marcas: o Encontro de Goiânia, realizado em abril de 1985, elaborou a Carta de Goiânia; o Seminário Nacional de Vigilância Sanitária, em novembro de 1985, promovido pela Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, que, com nova equipe técnica assumia atuação distinta na defesa da saúde da população, vindo a confrontar-se com o ministro da Saúde. O Seminário Nacional acima referido, teve como desdobramento a elaboração do Documento Básico sobre uma Política Democrática e Nacional de Vigilância Sanitária, que definia, por primeira vez, que o objeto essencial da vigilância sanitária é a proteção da saúde da população.
O outro evento marcante foi a Conferência Nacional de Saúde do Consumidor, uma conferência temática específica, realizada como um desdobramento da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Realizada em Brasília, no período de 4 a 8 de agosto de 1986, com ampla participação social, teve por objetivo, definir o papel do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. O Centro Brasileiro de Estudos da Saúde (CEBES) publicou esses documentos, no número 19 (1987) de sua revista, Saúde em Debate, entre outros artigos referentes a temáticas da área de vigilância sanitária.
Num contexto de rearticulação das forças conservadoras do país e da crise econômica devido ao fracasso do Plano Cruzado, quando também as forças políticas convergiam para a Assembleia Nacional Constituinte, as posições assumidas pela equipe dirigente da SNVS, passaram a contrariar interesses, vindo a configurar uma crise política no Ministério da Saúde, o que terminou com o afastamento da maioria dos técnicos da SNVS comprometidos com mudanças na área, mas também despertou interesse pela vigilância sanitária no país.
São exemplos dessas posições, aquela favorável e solidária ao dirigente do órgão estadual de vigilância sanitária, quando se tentou responsabilizá-lo pela tragédia radioativa de Goiânia e outras posições, relacionadas a interesses contrariados da indústria farmacêutica, bem como a posição contrária à ingestão de alimentos provenientes de áreas de contaminação radioativa do acidente de Chernobil, sem prévia avaliação de riscos e benefícios para a saúde da população, e ainda a posição contrária à liberação do uso de edulcorantes artificiais em refrigerantes dietéticos, por evidências de riscos à saúde, bem como a liberação do uso de hormônios anabolizantes na pecuária de corte, entre outras.
Criação da Anvisa
No início dos anos 1990 discutia-se a ideia de um outro formato administrativo e começava-se a delinear concepções sobre a organização sistêmica da vigilância sanitária num sistema nacional, com propostas de reformulação institucional. Esta década foi marcada por eventos sanitários dramáticos, no âmbito da vigilância sanitária, de impactos na área econômica e social. Amplamente divulgados na mídia, chamavam a atenção os muitos casos de desmandos e crimes contra a saúde pública e também as fragilidades do aparato institucional na cumprimento de suas funções: são exemplos o caso Schering da pílula de farinha, o caso de óbitos de idosos na Clínica Santa Genoveva no RJ, o caso da Clínica de Hemodiálise de Pernambuco, o caso dos óbitos em pacientes hospitalizados devido ao soro Endomed, o caso de óbitos de bebês em UTIs neonatais, o caso do medicamento Androcur falsificado e a descoberta de vários medicamentos falsificados, de distribuidoras e fábricas de medicamentos clandestinas, roubos de cargas de medicamentos, entre outros.
Em meio a várias tentativas institucionais para enfrentamento de tantos problemas, a crise sanitária culminou com uma reforma institucional na esfera federal, que assumiu o formato de agência reguladora. Apresentada numa proposta de Lei rapidamente aprovada no Congresso, em 1999 foi criada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e instituído formalmente o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cuja coordenação lhe foi atribuída.
Num contexto favorável, de Reforma do Aparelho de Estado e de reconfiguração do modelo de estado provedor e prestador de serviços para o modelo de estado regulador, o formato de agência foi adotado em áreas de atividades econômicas tradicionalmente conduzidas pelo Estado e também na área social, criando-se a Anvisa e a ANS para regular a assistência médica suplementar, os planos de saúde. O modelo já estava disseminado em outros países e mostrava-se mais adequado a necessidades decorrentes de uma posição do Brasil mais destacada na economia mundial.
No processo de instalação da Anvisa e ocupação de cargos dirigentes por pessoas mais próximas à Saúde Coletiva e ou à Saúde Pública deu-se uma aproximação da vigilância sanitária institucionalizada com instituições acadêmicas, a princípio na busca por formação de pessoal, vindo a ampliar-se para a pesquisa e a cooperação técnica mais ampla. Nesse processo foram estabelecidos vínculos mais abrangentes com algumas instituições, criando-se os chamados centros colaboradores, nos quais atuavam membros do Grupo Temático de Vigilância Sanitária da Abrasco (GTVisa), no ensino e na pesquisa. Com resultados positivos inclusive para a questão da vigilância sanitária na pesquisa.
Surge o GT Vigilância Sanitária da Abrasco
No Congresso de Saúde Coletiva, realizado em Salvador, no ano 2000, foi aprovada uma moção pela criação de um GT Vigilância Sanitária da Abrasco, que foi instituído no ano seguinte, no período de organização e realização da 1ª Conferência Nacional de Vigilância Sanitária em Brasília, de 26 a 30 de novembro de 2001. Precedida de conferências estaduais e de numerosos eventos semelhantes em municípios e regiões do país, a Conferência Nacional contou com expressiva participação de distintos segmentos da sociedade organizada, membros do GTVisa e acirrados e incansáveis debates até o amanhecer o último dia.
Em 2002, foi realizado o 1º Simpósio de Vigilância Sanitária, em São Paulo. Por se evidenciar como uma temática pouco abordada nos congressos da Saúde Coletiva, sentia-se falta de espaços próprios para debater as questões da área, refletir e trocar experiências que pudessem fazer avançar a organização e desenvolvimento da vigilância sanitária no país e a consciência social de sua importância como ação de saúde e de construção da cidadania.
Dificuldades para a realização do 1º Simbravisa existiam e muitas, mas também entusiasmo; até se cogitava de um congresso, mas esta modalidade de evento é própria das Comissões da Abrasco, surgindo a proposta de um simpósio que deu origem ao simpático denominativo dos participantes como simposiastas; se não me falha a memória, uma criação de Sueli Dallari que honrosamente emprestou seu prestígio e competência para a instalação do GTVisa e a realização do 1º Simbravisa.
A articulação da Abrasco, no seu braço GTVisa, com a Anvisa, estados e parcela dos municípios e a colaboração do Conselho Nacional de Saúde, entre outros, docentes, pesquisadores e profissionais dos serviços de vigilância sanitária forma um arco de alianças entre atores na promoção, patrocínio e realização dos Simbravisas que chegam em 2023 na sua 9ª edição. Cada evento é realizado com muitas expectativas de poder contribuir para o desenvolvimento da vigilância sanitária no país, com estímulo à produção científica, debates e reflexões sobre os problemas experimentados e as necessidades em cada esfera de gestão e região.
Cada Simbravisa tem seus desafios, às vezes de ordem financeira e sempre de arranjos estratégicos para que os trabalhadores dos serviços possam participar ativamente; mas também tem contado com entusiasmo e uma metodologia participativa de construção e de elaboração de seus materiais para que lhes sejam conferidos beleza artística e significado para a área de vigilância sanitária.
A área tem experimentado crescimento, a produção científica vem se desenvolvendo, conta com pós-graduação stricto senso, já se dispõe de uma publicação bem indexada, já não é tão desconhecida; é possível que a pandemia de Covid-19 tenha contribuído para uma maior valorização social e técnico-científica da vigilância sanitária.
*Ediná Alves Costa é Professora Doutora Associada do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, integrante fundadora do GT Vigilância Sanitária da Abrasco