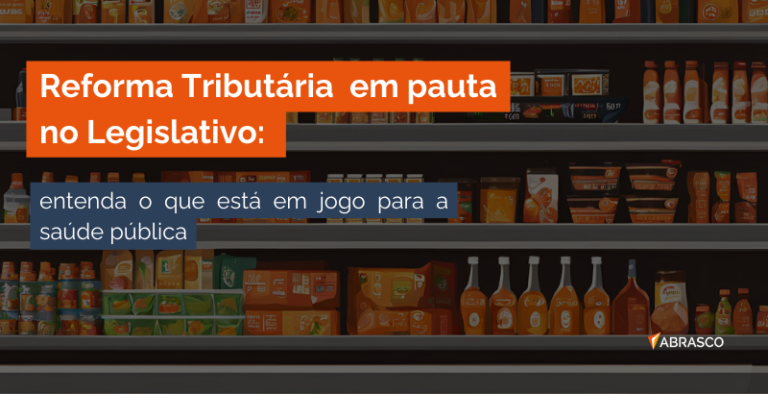Membro da Comissão de Política da Abrasco, a professora Ligia Bahia publicou nesta segunda-feira, 4 de junho, no jornal O Globo o artigo “Fazer de conta” onde aborda o Sistema Único de Saúde diante de tantos problemas como os mais recentes cortes para subsidiar a redução do preço do combustível.
O SUS tem sido subfinanciado desde sua aprovação, em 1988. Trinta anos depois, e com a proximidade de novas eleições, é obrigatório perguntar se o pacto firmado em torno do direito universal à saúde foi um equívoco ou se não efetivá-lo é um erro. Como a pergunta não tem resposta fácil, a tendência é enrolar. Melhor se declarar totalmente adepto de um SUS eterna promessa — que um dia será e nunca é cumprida em tal ou qual governo — do que encarar a realidade. O fazer de conta impede que as boas ideias e experiências que circulam sobre a organização de sistemas de saúde sejam incorporadas. Falta um monte de dinheiro para a saúde pública, e a privatização, que só beneficia empresários, não é solução para o Brasil, especialmente para quem precisa de atendimento.
Se o SUS pagasse dez mil reais por mês, mais obrigações trabalhistas, aos 454 mil médicos existentes, o gasto seria um pouco menor do que o total do orçamento do Ministério da Saúde. Sobraria metade do total, referente à soma dos gastos de estados e municípios, para o restante dos pagamentos, inclusive outros profissionais, igualmente essenciais. Atualizar a tabela do SUS para internações para ampliar o acesso — considerando parâmetros internacionais médios e multiplicando por dois o valor de 2017 — exigiria um aumento de 20% do orçamento. Padronizar o gasto público per capita por unidades da Federação — que apresenta disparidades, o de São Paulo é 25% maior que o do Maranhão — exigiria mais recursos. O montante do pagamento de profissionais, exames, internações, balizados por um critério mínimo de alocação territorial, ficaria muito acima das despesas correntes.
A alternativa apresentada por entidades empresariais de ampliar a cobertura de planos privados para metade da população é inviável e irresponsável. Caso fosse operacionalizada — o preço médio de um plano foi cerca de R$ 300 em 2017 —, exigiria um aumento de mais de um terço dos gastos públicos, apenas para pagar alguns procedimentos, que não incluem, de saída, despesas com medicamentos básicos e atividades de prevenção. Outra metade dos brasileiros continuaria necessitando dos serviços do SUS, e mesmo a parcela coberta pelos planos seguiria demandando no mínimo apoio diagnóstico, terapêutico e vacinas nos serviços públicos. Considerando que a renda média dos brasileiros foi de R$ 1.270, a ideia significaria um super gasto catastrófico. Ou seja, o pagamento da mensalidade do plano prejudicaria a possibilidade de adquirir e pagar itens básicos como alimentos e transporte.
Levar em conta a saúde requer esclarecimentos sobre o funcionamento do SUS e do setor privado. A saúde é um dos reinados da denominada pejotização e renúncia fiscal. Quem trabalha tem sido instado a “abrir uma empresa” para ser contratado seja por operadoras de planos, seja por organizações sociais do SUS. Vendedores de planos perguntam se eventuais compradores têm CNPJ, porque assim haveria “desconto” de 40%. O volume de gastos públicos diretos estagnou, mas as transferências para o privado decorrentes de desonerações aumentaram. O não pagamento de contribuições sociais e impostos reduz a arrecadação e as perspectivas de financiar adequadamente a saúde pública. Não houve aumento de eficiência do setor privado e, sim, crescimento às custas de benefícios fiscais.
Até um tempo atrás, a saúde pública ainda poderia ser entendida como sinal de atraso, de pobreza; os que pudessem pagar se destacariam dos comuns. Hoje, principalmente depois do Obamacare, as concepções sobre saúde mudaram. Tem gente sendo apanhada no contrapé, diante de uma opinião pública e de especialistas mundiais que valorizam os sistemas universais. Contudo, os grupos econômicos privados no país se tornaram mais influentes. Passaram a contar estórias, sem começo e fim, nas quais as empresas salvam o SUS, mas a melhoria das condições de saúde sequer aparece na paisagem. Falam em gestão, mas concentram suas ações em torno do financiamento. Demitir e contratar para não pagar obrigações trabalhistas, conseguir créditos, rolar dívidas às custas de negociações políticas não é gestão da saúde. Existe um nó na saúde que, ao invés de ser desatado, tem sido apertado.
Sem desfazer o pacto implícito, nada transparente e regressivo, do uso e abuso de investimentos públicos para dinamizar serviços privados, qualquer compromisso para ampliar acesso e qualidade do SUS é puramente retórico. Analogamente, seria pretensioso ignorar dificuldades para sustentabilidade dos sistemas públicos. Efeitos da recessão econômica combinados com a não priorização do SUS são dramáticos. Houve redução dos gastos com medicamentos e, agora, mais cortes para subsidiar a redução do preço do combustível. Compatibilizar direitos, necessidades de saúde, solidariedade social e financiamento público não é nada trivial, mas permite elaborar uma conta realista no curto, médio e longo prazos, e reconduz o país à história.