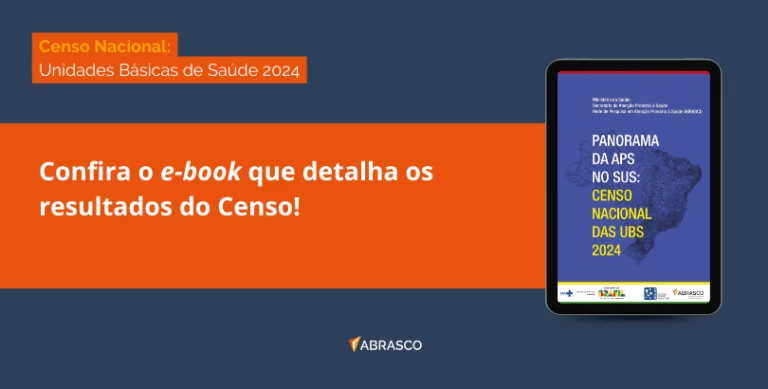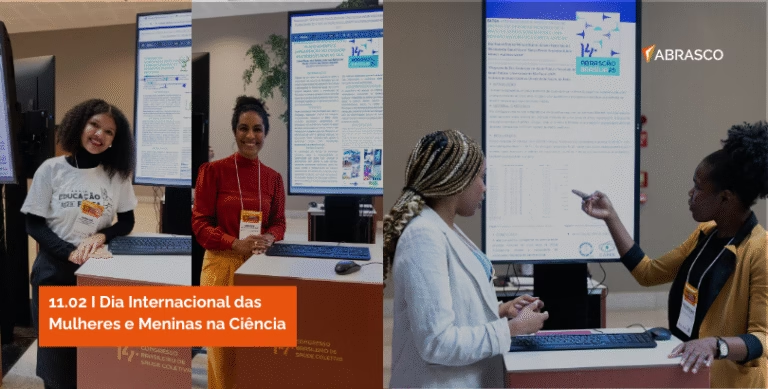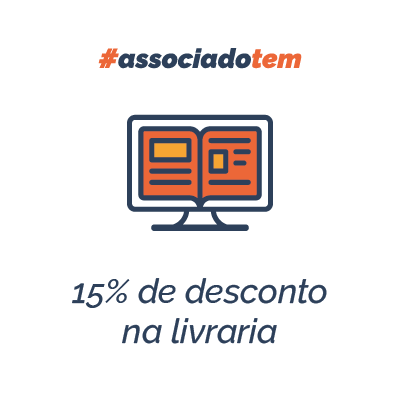Vivemos uma pandemia, um processo histórico em curso. O desfecho é incerto, mas o resultado já é dramático e as consequências, gravíssimas. “É muito mais fácil estudar a história das epidemias do que viver uma”. Assim, Dilene Nascimento, pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz), iniciou sua apresentação na sessão História e Crises Sanitárias, da Ágora Abrasco, no dia 11 de agosto. O painel de historiadores trouxe ainda Luiz Antonio Teixeira, (COC e IFF/Fiocruz) e Carlos Fidélis Ponte, (COC/Fiocruz e Cebes). A coordenação foi de Carlos Henrique Assunção Paiva, que dialogou com Dilene, dizendo que o processo histórico que vivemos ainda não está concluído e que até pode ser ‘interessante’ para um historiador, “mas é muito chato de ser vivido”.
Paiva pontuou sobre a dimensão mais ampla do historiador na crise sanitária. Além dos indicadores epidemiológicos, o historiador estuda os impactos sociais e econômicos, as respostas da ciência e o posicionamento do Estado e da sociedade, com uma “perspectiva mais ampla, em grande angular”, comparou.
Refletindo sobre as questões do passado e os desafios do presente na pandemia atual, Luiz Antonio Teixeira afirmou que “crises sanitárias são mais comuns do que a gente imagina”. O pesquisador contou que, no Brasil, os surtos epidêmicos vêm desde a época da colônia, em especial de varíola e que, com o desenvolvimento das cidades surgiram epidemias mais fortes, como de cólera e febre amarela.
Lembrando a luta de Oswaldo Cruz, o pesquisador disse que, no início do século 20, a “necessidade econômica das elites possibilitou a ampliação das defesas sanitárias, novos conhecimentos para o controle de epidemias, como o desenvolvimento da microbiologia, soros e vacinas”. Comparando a epidemia de gripe espanhola, que teve início em 1918, e a Covid-19, Teixeira pontuou sobre estigmas, preconceitos e censuras e que epidemias “não são eventos democráticos, atingem grupos específicos, atribuídos como menos importantes e são normalizadas”.
O pesquisador falou ainda sobre a visão mágica da sociedade diante do surgimento de epidemias, entendendo “como vingança divina, reação xenófoba ou mesmo por conta de um cometa”, uma visão coletiva da sociedade sendo castigada. O pesquisador refletiu sobre negacionismo. Para ele, hoje, as discussões sobre as tensões nas formas de tratamento e controle da doença ocorrem por conta de formas específicas de encarar a ciência, mais do que somente “a exclusão da ciência”.
Carlos Fidélis Ponte contou sobre o surgimento da Fundação Oswaldo Cruz e do Instituto Butantan, afirmando que “a passagem de uma epidemia modifica muita coisa e deixa rastros” e que “as epidemias são momentos que, apesar de muito tristes e traumáticos, desafiam a ordem estabelecida, questionam, rompem limites, principalmente entre direito individual e coletivo”.
A epidemia silenciada de meningite na década de 70, durante a ditadura militar, foi tema da fala de Ponte, que contou sobre a vinda de nordestinos para o sudeste e a formação de um cinturão de pobreza nas grandes cidades, com uma população esquecida pelo Estado. Na época, quando ‘explodiram’ os casos de meningite, a censura impediu o debate, sendo responsável pela expansão e pelo aumento da letalidade da doença. Não houve preparação e mobilização adequadas, atrasando os processos e fragilizando a própria estrutura do Ministério da Saúde. “A pessoa não sabia o que causava o mal estar, com demora para socorro médico, sem diagnóstico e nem tratamento, com a doença chegando a um estágio avançado”, explicou, completando: “quando a epidemia atingiu setores com mais poderes de pressão sobre o Estado, a censura caiu, com grande mobilização da sociedade”.
O pesquisador também discorreu sobre o investimento em ciência e tecnologia e que, para sairmos dessa pandemia, precisamos discutir além de protocolos, para que a ciência faça sentido nesse momento e que não sejamos apenas produtores de papers. “Precisamos investir em infraestrutura, pensar em renda mínima, resolver nosso passivo social, transformando as políticas sociais como alavancas do dinamismo econômico para um desenvolvimento includente”, disse.
Quando iniciou sua fala dizendo ser mais fácil estudar do que viver epidemias, Dilene Nascimento afirmou que epidemias “desnudam estruturas sociais e ressaltam vulnerabilidades, desigualdades e miséria social”. A pesquisadora contou sobre o surgimento da Aids, devastadora e mortal, no início da década de 80. A letalidade, no início, era extremamente alta. Como foi observado que atingia homossexuais masculinos, foi chamada de peste gay, reforçando questões morais e estigmas, tanto nos Estados Unidos quanto aqui.
“A Aids nos trouxe uma coisa inovadora, os próprios indivíduos afetados pela doença, familiares e amigos, se organizaram no sentido de buscar respostas e exigir do Estado”, pontuou a pesquisadora. No Brasil, no início, a Aids não era prioridade, porém, “nada ficou em silêncio, pois eles próprios resolveram não morrer em silêncio, e se organizaram em Organizações Não Governamentais (ONGs)”, explicou.
Dilene Nascimento contou ainda que a incidência, no início, além dos homossexuais masculinos, era alta em usuários de drogas injetáveis e em hemofílicos. Na época, o sangue era vendido e não havia controle efetivo. Quando houve a percepção que o sangue dos bancos poderia estar contaminado e que, além de hemofílicos, qualquer pessoa que precisasse de uma transfusão poderia se contaminar, houve pressão social, potencializada pela morte do cartunista Henfil, que era hemofílico.
Houve mudança de postura do governo, com ações de testagem e triagem, propaganda para o uso de preservativos, terapia com antirretrovirais “assumindo a Aids como um problema, garantindo a saúde como direito e criando um programa nacional de enfrentamento da doença”, afirmou a pesquisadora. O resultado foi bastante positivo, mas “as pesquisas não terminaram, como por exemplo as profilaxias pré e pós exposição ao vírus (PrEP e PEP)”, concluiu Dilene Nascimento. Tanto a PrEP quanto a PEP estão disponíveis no SUS.