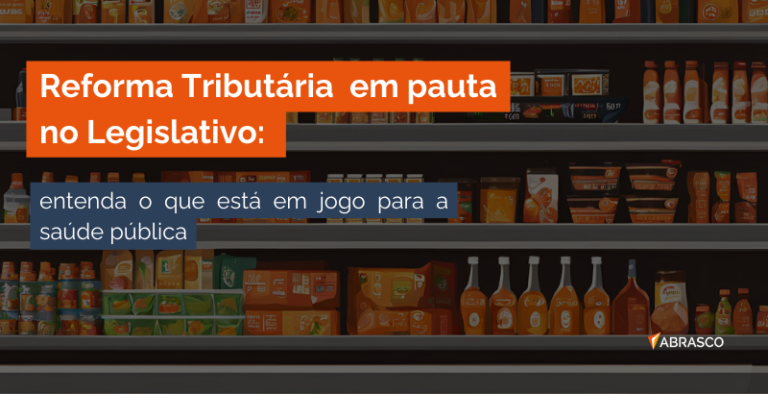A professora Ligia Bahia, membro do Conselho da Abrasco, assina artigo publicado nesta segunda-feira 4 de agosto de 2014, no jornal O Globo. Ligia questiona os mais recentes acontecimentos que resultaram na morte de duas pessoas que agonizaram pedindo socorro em hospitais. O primeiro é Luiz Cláudio Marigo, de 63 anos. No dia 2 de junho deste ano ele foi vítima de infarto, dentro de um ônibus, e não recebeu atendimento no Instituto Nacional de Cardiologia (INC), em Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro. O outro homem era Nelson França, 48 anos e que ficou por cerca de uma hora caído em frente ao Hospital Santo Expedido, em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, no dia 16 de julho deste ano.
Confira o texto na íntegra:
A agonia e morte do fotógrafo Luiz Claudio Marigo e do vigilante Nelson França, barrados na porta de hospitais, viraram casos de polícia. O delito apurado em ambos os casos é a omissão de socorro. Testemunhas e gravações reportam as tentativas de busca e recusa do atendimento, tanto por uma unidade pública no Rio quanto por uma particular em São Paulo. Os motivos alegados para impedir a entrada de duas situações de emergência nos hospitais confundem a ação individual com regras institucionais. Quem estava na cena das instituições que negaram assistência alega ter cumprido normas ditadas pelas chefias dos órgãos nos quais trabalham. Fica subentendido que, se tivessem posto os pacientes para dentro, seriam advertidos, punidos, demitidos, e ainda que a ajuda a qualquer pessoa deixou de ser um gesto solidário ordinário, precisa aprovação prévia, depende de autorização oficial.
Instituições de saúde servem para salvar vidas e não para erguer muralhas de proteção contra pacientes. O contraste entre a impassibilidade de funcionários brasileiros e a atuação dedicada do jovem médico de Serra Leoa que morreu ao se contaminar com o ebola não é explicável somente pelo autossacrifício ou egoísmo. Não está escrito em qualquer lugar que os hospitais foram construídos para impedir a entrada de doentes graves, pelo contrário, a negação de cuidados é objeto de sanção. Tudo indica, portanto, que os critérios perversos de seleção do acesso são impostos por extrema coerção institucional. O temor de ser responsabilizado pelo ingresso de um caso de risco de vida em um hospital que até pouco tempo exibia uma faixa “Aqui não tem emergência” e admitir um paciente sem plano de saúde em estabelecimento privado oblitera a consciência sobre a punição pelo comportamento não cooperativo.
O entendimento de ambos os casos como meras aberrações, erro ocasional de julgamento ou crueldade de quem estava cumprindo o papel de leão de chácara deixa de lado as convenções legitimadas pelas autoridades da saúde das mais diversas esferas de governo. O silêncio das secretarias e do Ministério da Saúde pode ser interpretado como uma estratégia oblíqua para tirar o corpo fora e torcer para que o próximo escândalo ocorra bem longe de suas jurisdições, ou mesmo como profundo desvio de finalidade. Se a missão das instituições de saúde é atender os cidadãos, os hospitais públicos de maior porte deveriam ter emergências abertas e os privados seriam obrigados a prestar o primeiro atendimento para quem corre risco de vida.
Ninguém passa mal de propósito. Ouvir “chame o Samu” na porta de um hospital dotado de recursos especializados pagos pelos contribuintes ou autorizado a funcionar pelo poder público é um atestado do colapso da reciprocidade social. Nos últimos anos, diversas emergências de hospitais públicos foram fechadas e institutos especializados de âmbito nacional não conseguiram ampliar a oferta para abranger a atenção a pacientes em situação crítica. Mas os problemas emergenciais, decorrentes inclusive da agudização de doenças crônicas, não diminuíram. A repressão pura pode assustar, por um tempo, as pessoas que cumprem as funções de selecionar casos, mas não altera a lógica de funcionamento das instituições. Os processos de reconhecimento de igualdade entre quem procura atenção à saúde e quem neles atende é fundamental para mudar as tendências dos hospitais públicos de rejeitar pacientes por dificuldades operacionais e dos privados de discriminar pacientes pobres ou aparentemente pobres.
Cabe à polícia ouvir testemunhas e indiciar suspeitos, e às instituições de saúde tomar decisões que expressem a internalização de novas regras, substituindo a proibição do acesso pela garantia da atenção a casos de morte iminente. No lugar da escolha de pacientes segundo critérios de melhor remuneração e não perturbação da rotina, um ordenamento orientado pelas necessidades de saúde, sejam emergenciais ou não. A maioria dos hospitais nos países ditos desenvolvidos possui emergência aberta. A existência de unidades fixas ou móveis de atendimento pré-hospitalar não os exime da prestação de cuidados de urgência e emergência.
Criminalizar indivíduos pela omissão de socorro responde em parte ao ressentimento dos sobreviventes, mas não altera as engrenagens das decisões institucionais. Os hospitais exclusivos para ricos ampliaram a capacidade instalada e trataram de abrir emergências, enquanto que a rede hospitalar pública encolheu, fechou prontos-socorros. Não é por menos que a identificação do privado com qualidade e do público com precariedade, embora falsa, tornou-se quase automática. O ajuste ou afastamento dos serviços de saúde às expectativas da população é um parâmetro inequívoco de excelência. Diferente do que ocorre com as funções biológicas, as ações dos seres humanos são intencionais, podem transformar as normas sociais encorajando a contribuição para o bem comum. Afirmar o SUS como alternativa assistencial confiável para a população não é uma tarefa para a polícia, requer um reposicionamento dos responsáveis pela saúde em relação ao fechamento das emergências públicas e a respeito da natureza e finalidade dos hospitais.