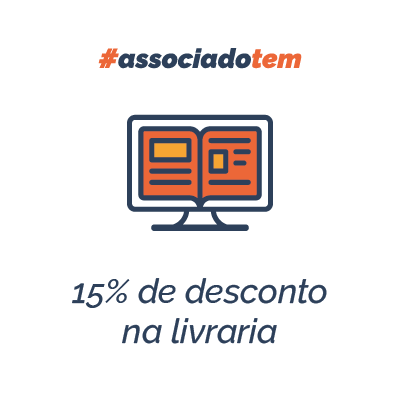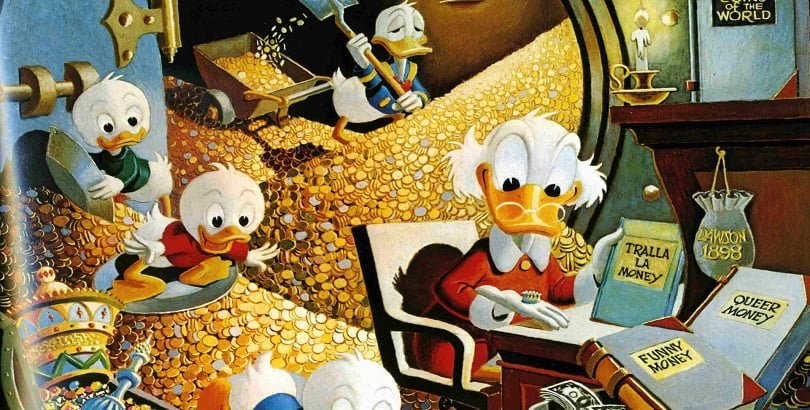
O Le Monde Diplomatique no Brasil publicou neste 5 de maio, artigo de Marcelo Manzano – economista, doutor em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp, que fala sobre a forma de viabilizar financeiramente a política pública. Confira:
Se for finalmente derrubado o tabu teórico que pregava limites espartanos para o gasto público, poder-se-á abrir uma avenida no campo da política econômica para se avançar rumo ao pleno emprego e ao financiamento do Estado de Bem Estar Social. Artigo do Observatório da Economia Contemporânea
Em artigo publicado semanas atrás no jornal Valor Econômico, o economista André Lara Resende, talvez um dos maiores expoentes do liberalismo econômico no país e o pater familias do Plano Real, colocou a moeda em cima da mesa e tratou de questionar a forma como a corrente dominante entende o seu papel na economia capitalista contemporânea.
Aos não economistas, esse debate pode parecer um tanto esdrúxulo ou lateral, mas, acreditem, é fundamental, já que em última instância é esse entendimento sobre o papel da moeda que define o norte das políticas econômicas que governam um país. Antes de avançar, portanto, vale um breve esclarecimento sobre o assunto.
Costuma-se considerar que a moeda cumpre três funções clássicas no capitalismo: 1) meio de troca: quando é utilizada como um equivalente geral para que sejam trocados produtos e serviços no dia a dia dos mercados; 2) unidade de conta: quando serve como um padrão de medida (um índice) que permite comparar e avaliar o valor de produtos, serviços e riquezas diferentes entre si e 3) reserva de valor: quando funciona como forma geral da riqueza, isto é, quando os agentes a retém para preservar os valores que puderam se apropriar até o presente.
Pois bem, desde a velha tradição monetarista (surgida na Escola de Chicago em meados do século XX) até os atuais e predominantes economistas novo-keynesianos (que de keynesianos não têm nada), prevalecia uma perspectiva de que a moeda é apenas e fundamentalmente um meio de troca, o que significa dizer que a moeda seria neutra, uma espécie de graxa que ajuda no funcionamento dos mercados, mas que em nada afetaria a dimensão real (material) da produção e da renda. Desta perspectiva, o volume de moeda que circula na economia impactaria apenas o nível geral de preços. Emissão de moeda em excesso ou gastos financiados por endividamento público seriam assim inúteis para impulsionar a atividade econômica e prejudiciais ao bom ambiente econômico, na medida em que produziriam pressões sobre o sistema de preços provocando inflação. Logo, controlar a quantidade de moeda por meio de regras rígidas de emissão (como recomendavam os velhos monetaristas) ou pelo manejo da taxa de juros (como querem os novo-keynesianos) seria o fundamento primordial a orientar a ação governamental.
Como essa concepção um tanto simplista da moeda serve muito bem aos interesses de todos os agentes econômicos que estão na ponta credora do sistema (instituições financeiras e rentistas de um modo geral), ela foi sempre abraçada com afinco pelas classes dominantes, principalmente a partir dos anos 1970, quando o padrão de regulação da ordem econômica internacional de Bretton Woods foi desmantelado, abrindo o flanco político para a emergência das finanças desreguladas e o império dos rentistas.
Nessa toada, o mundo seguiu aos trancos e barrancos até a grande crise financeira de 2008, que não só explicitou o fracasso daquela ordem desregrada, como ensejou políticas emergenciais que jogaram na lata do lixo toda a construção teórica que vinha sendo lapidada pelos novo-keynesianos e sua certeza na moeda neutra. Para socorrer os bancos que iam a pique empapuçados de títulos podres, os governos dos países centrais (principalmente dos Estados Unidos) passaram a comprar seus micos com um apetite ciclópico, inundando de liquidez as praças financeiras e salvando os bancos privados do colapso. A essa solução deu-se o nome de quantitative easing (QE), termo em inglês que pode ser traduzido por “laxidão monetária”. Com ela, a crise não engoliu o capitalismo, nem o capitalismo engoliu a crise. Entretanto, o que mais intrigou os economistas convencionais, até então fieis ao mantra da moeda neutra, é que a avalanche de dinheiro circulando no mundo ao lado de taxas de juros próximas de zero não tiraram a inflação do rés do chão, embora muito tenham contribuído para inflar os preços dos ativos (reais e financeiros).
Intrigada com teimosia mundana de trilhar caminhos não prescritos pelos manuais de economia, a ortodoxia econômica voltou aos livros em busca de interpretações alternativas a respeito das funções da moeda. Acabou trazendo à tona teorias que apontavam a função “unidade de conta” como aquela que deveria ser considerada a primordial. Resgataram assim a MMT (modern monetary teory) dos anos 1990 e com ela, toda a velha ladainha sobre a relação entre excesso de moeda e inflação passou a ser fortemente questionada. Mais do que isso, corretamente, os economistas da MMT jogaram luz sobre um aspecto contra intuitivo do capitalismo que é fundamental para se compreender o seu real metabolismo: a quantidade de moeda não é controlada pelos governos ou pelos bancos centrais, mas gerada endogenamente, isto é, por dentro do circuito financeiro na medida em que há maior ou menor demanda por crédito. Como bem observa Lara Resende “sua expansão ou contração [da moeda] é consequência, e não causa, do nível da atividade econômica”.
Como decorrência lógica dessa concepção um tanto mais realista das funções da moeda, uma segunda conclusão que obrigatoriamente vem sendo resgatada diz que, se não é cabível satanizar o excesso de moeda, então também deixa de ser problema o fato dos governos se endividarem, vendendo títulos da dívida pública (que são uma variante da moeda) para aumentarem os seus gastos e estimularem a demanda.
Ora, ora, se assim for – e a história do capitalismo demonstra com fartura de evidências que assim é – então o setor público não precisa lidar com as impertinências da restrição financeira, podendo avançar os seus gastos muito além da sua capacidade de arrecadação. Keynes e Kalecky já haviam tratado disso – e muito mais! – há quase noventa anos, mas estranhamente a ortodoxia preferiu descartar suas profícuas reflexões, apostando na ideia de que todos os agentes econômicos, inclusive o Estado, se movem segundo as mesmas regras universais, notadamente a da restrição financeira.
Deve-se reconhecer, portanto, que o despertar de Lara Resende para este “novo” entendimento da macroeconomia tem o mérito de trazer um debate que nas últimas décadas rastejava pelo campo da heresia para o centro do ninho das garças, digo, do clube de economistas liberais brasileiros que cuida de azeitar os argumentos da corrente dominante neste nosso fim de mundo. Se for finalmente derrubado o tabu teórico que pregava limites espartanos para o gasto público, poder-se-á abrir uma avenida no campo da política econômica para se avançar rumo ao pleno emprego e ao financiamento do Estado de Bem Estar Social.
É de se lamentar, entretanto, que tanto Lara Resende quanto os economistas que hoje se entusiasmam com as revelações da MMT não avancem como poderiam. A bola segue quicando na frente do gol, mas eles preferem ignorar o fato incontornável de que a moeda cumpre uma outra função – a mais crucial das três – na ordem capitalista: a de “reserva de valor”. Vejamos qual seria então o busílis da questão.
Primeiramente, vale notar que por ser uma modalidade de ativo com qualidades muito especiais (liquidez plena, grande mobilidade, fácil entesouramento, dentre outras), a moeda é o porto seguro para onde a riqueza se transmuta sempre que sente cheiro de crise e, também, é o cálice sagrado que abriga mais ou menos quinhões de capital quando seus possuidores não estão seguros quanto às alternativas de acumulação produtiva que se apresentam no cenário. Keynes, lendo em Marx o problema do salto mortal da mercadoria (i.e., da sempre possível e ameaçadora não realização da produção) denominou esse traço de caráter dos capitalistas como “preferência pela liquidez” e demonstrou que nele reside a mãe de quase todos os problemas que cercam esse colérico sistema em que estamos metidos.
Como deveria parecer óbvio a todo aquele que pisa a calçada da rua, o ambiente econômico que aflora da dinâmica capitalista é atravessado do início ao fim por inescapáveis incertezas, pois nada pode garantir que as inversões produtivas alcancem plenamente o lucro que era planejado no momento em que se decidiu imobilizar capital. Se assim for, deve-se considerar que ao menos uma fração do capital não seja empenhada em processos de acumulação produtiva, ficando preservada em sua forma líquida (olha a moeda aí!). O problema é perturbador porque, embora cada capitalista individual possa decidir soberanamente o quanto de sua riqueza deseja imobilizar em um processo de acumulação produtiva (comprando trabalho, máquinas e insumos), é ao mesmo tempo incapaz de controlar ou sequer prever o quanto de capital será investido pelo conjunto da classe capitalista. Dessa anarquia das decisões de investir, resultam dois problemas da maior gravidade: (1) periódicas e imprevisíveis crises de acumulação e (2) a prevalência de um padrão comportamental que prima pela aversão ao risco, cujo reflexo em termos agregados é a tendência ao subemprego das forças produtivas.
Dito isso, e partindo do entendimento de que a função “reserva de valor” não apenas deve ser considerada, como deve ser percebida como crucial na formulação das políticas econômicas, vale refletir sobre certas implicações desta particular função da moeda no campo da economia política.
Por servir como “equivalente geral da riqueza” que, em última instância, permite estabelecer o balanço entre as relações de propriedade em nossa sociedade, a moeda atua como a chave de comando (o comutador) que estabelece as hierarquias de poder entre países, blocos de capital, modalidades de ativos e classes sociais. Não por outra razão, a gestão da moeda, ou melhor, a manutenção artificial de sua escassez, é antes de mais nada um instrumento político, de preservação do valor relativo da riqueza e, consequentemente, da luta de classes. Por isso, ao contrário do que propõe a autocrítica tardia e meritória de Lara Resende – e de seus colegas da MMT –, o anacronismo do pensamento econômico dominante não deve ser imputado a equívocos teóricos que por ventura lhes encantavam, mas antes à sua pertinência para manter o jugo do capital sobre os interesses gerais da sociedade.
Em outras palavras, o que Lara Resende não se atreve a dizer – e talvez até mesmo conceber – é que o debate em torno da gestão da moeda é tão somente a epiderme de um conflito muito mais profundo e crítico a respeito do poder relativo das classes no capitalismo. Para o polo dos possuidores da riqueza, não apenas é imprescindível manter o torniquete privado (i.e., o banco central independente) regulando a quantidade de moeda que circula na economia, como é fundamental guardar em segredo o poder que dispõem de decidir acumular riqueza em forma líquida (eis a moeda como reserva de valor), especialmente quando a produção se esfarela e o desemprego grassa.