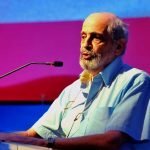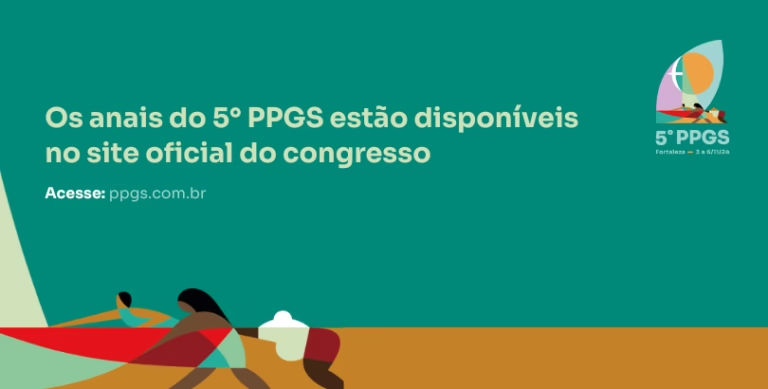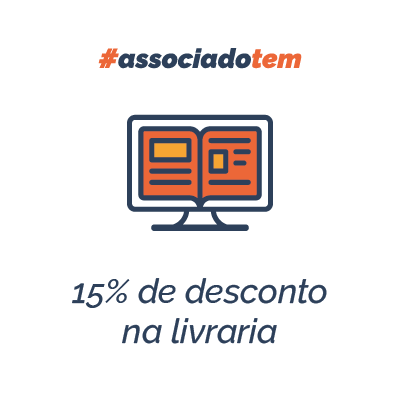No último debate “Política Planejamento e Gestão em Saúde como práxis na saúde coletiva e no SUS”, as falas de Carmen Teixeira (ISC/UFBA); Rosana Onocko-Campos (FCM/Unicamp) e Adolfo Chorny (ENSP/Fiocruz) encerraram a programação científica do 3º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde com sofisticação intelectual e envergadura propositiva. A mediação foi de Oswaldo Tanaka (FSP/USP).
Carmen Teixeira, docente do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (ISC/UFBA) convidou todos a um passeio pelas ideias centrais de Ricardo Bruno Mendes Gonçalves (1946-1996), com destaque para as trabalhadas no texto “Seres humanos e práticas de saúde: Comentários sobre “Razão e Planejamento”, de 1995. “Este texto é de uma bela complexidade, de forte densidade teórica e crítica afiada, e promove a retomada dos valores perdidos enquanto condição ideal. Um desses valores é a esperança, palavra esta que desde domingo tem aparecido a propósito de toda uma análise de uma poli crise, reafirmação da importância do texto e desse nosso espaço, que por si só constitui a força da esperança”.
Para Carmen, o planejamento não pode ser reduzido a uma ferramenta instrumental. Pelo contrário, precisa ser considerado um espaço de diálogo, na mediação entre as práticas políticas entendidas como dispositivos da ação comunicativa, como conceituado por Habermas. Outro autor citado é Mario Testa, que afirmava o planejamento como a construção de sujeitos críticos dispostos a assumir a responsabilidade dos atos. “Nunca como antes vivemos um momento nacional com problemas da gestão pública tão evidentes, quando uma verdadeira quadrilha toma conta do Estado e transforma as ações do Ministério da Saúde em um balcão de negócios”, ressaltando a crítica como denúncia e forma de compreensão da realidade. Voltando ao texto de Mendes Gonçalves, Carmen destacou também o conceito de ‘processo de trabalho em saúde’, construído pelo autor como instrumento teórico para a superação do modelo médico tradicional, fundamentado na hegemonia da clínica (individual), e que parte em direção à articulação de saberes e práticas que contemplem a promoção da saúde (coletiva) a prevenção de riscos (ambientais, sociais, culturais, etc.) e a oferta de serviços assistenciais diferenciados de acordo com as necessidades e demandas especificas dos diversos grupos da população, delimitados por suas condições e pelos modos de andar a vida.
Ao final, a docente articulou as críticas de Mendes Gonçalves ao processo de institucionalização do movimento da Reforma Sanitária Brasileira, que apostou num processo de fortalecimento de suas bases sócio-políticas por dentro do Estado, abandonando o trabalho comunitário com os movimentos de base. “As observações, as críticas e advertências contidas no texto de Ricardo Bruno são preciosas e iluminam a reflexão sobre os objetos da pesquisa em Saúde Coletiva e, principalmente, sobre as práticas de saúde, favorecendo o estabelecimento do diálogo que inclua, simultaneamente as ações instrumentais, como o trabalho em saúde; estratégicas, da natureza do planejamento; e comunicativas, que nada mais é do que a ação política no campo da saúde e na sociedade”, completou Carmen, que encerrou sua fala fazendo o apelo para que reencontremos o que há de mais humano em nós.
A produção científica em Saúde Coletiva enquanto práxis: Um olhar mais sistêmico sobre o planejamento em suas múltiplas leituras e possibilidades no campo da Saúde Coletiva foi o ponto abordado por Rosana Onocko-Campos, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (FCM/Unicamp).
Já na primeira argumentação, Rosana localizou no tema um ponto onde a Saúde Coletiva tem tido dificuldades, tanto como área disciplinar, relativa à estruturação dos sistemas de saúde, mas também tomando o planejamento como elemento do campo científico e da ação política. Na sequência, elencou uma série de elementos para provocar o pensamento sobre “uma outra política menos dita”, destacando pontos fundamentais para a construção das agendas de pesquisa que, no Brasil sofre pela ‘lógica do freguês’ em detrimento dos princípios públicos. “Temos cristalizada a ideia de um Estado que paga e escolhe quem faz e o que faz com dos dados, numa lógica do conchavo. A tensão recai sobre os pesquisadores: como fugir da encomenda?”, explicita a pesquisadora, que reconhece a validade do direcionamento das frentes de pesquisas pelo poder público num pais com o tamanho do Brasil, mas que precisa ir além desse tipo de relação.
Pela própria natureza, as pesquisas em Saúde Coletiva tendem a serem implicadas, desde que situadas em uma certa perspectiva do que deva ser a política pública e seus valores de uso; e aplicáveis, no sentido de buscar sua utilidade imediata, enfrentando as tensões entre os tempos da pesquisa, dos serviços e da gestão. No entanto, em que pese o campo específico da Política, Planejamento e Gestão (PPG), comumente junta-se as três dimensões como se fosse um único processo, trazendo o debate das diferentes abordagens necessárias aos estudos dessa área. “Ressalto que não é que não existam tecnologias apropriadas, mas que a sua utilização requererá sempre uma análise preliminar, muito mais próxima da phronesis, do que da mera aplicação de uma técnica”, disse a docente.
Após pinçar elementos do debate da ciência e das especificidades e caminhos passados pelas três esferas que compõem a subárea, Rosana fez a crítica às últimas construções da agenda de pesquisas em PPG, que excluiu o tema da Saúde Mental e apresentou um sistema de avaliação sobre a Atenção Primária em Saúde absolutamente discricional, seguindo a lógica das encomendas do Ministério da Saúde. “Temos tido declínio no grau de democratização da nossa área, que vem incidindo sobre a construção dos editais. Onde estão os outros grupos de interesse na batalha para a construção dessas agendas? É como se nos isolássemos do conjunto da sociedade em uma questão que diz respeito ao interesse público”, disparou, ressaltando a importância de incorporar outros atores ao processo de pesquisa, e não chamá-los somente para serem objetos de estudo. Apontou ainda a dificuldade que as revistas da área têm de entender os estudos de PPG como próprios da Saúde Coletiva e as negativas e constantes tentativas dos estudos em ajustar estatísticas e análises para produzir artigos descritivos. “Temos de afirmar nossa identidade como produção de conhecimento. Utilizar recursos da Epidemiologia não torna nossos trabalhos descritivos. Acaba que reproduzimos uma espécie de colonização. Que tipo de análise estamos sustentando? Mas têm de ser de fato estudos analíticos, e não simples descrições de cenários”, falou a professora da Unicamp, criticando também a forma de pontuação dos docentes nos critérios da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (Capes) e defendendo a ideia de financiamentos específicos definidos pela prevalência dos consensos. Ao final, Rosana comentou as estratégias que considera viáveis e ainda pouco exploradas na área, como as pesquisas de implantação e processos efetivos de translação do conhecimento com a sociedade.
Por um Granma para desembarcar a luta: Do púlpito reservado para os oradores e da experiência de quem viu muitas transformações, Adolfo Chorni, pesquisador aposentado da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz) repassou alguns dos caminhos tomados pela Saúde Coletiva no confronto com a conjuntura brasileira e sua própria história, definindo o trabalho do pesquisador como um constante e infinito repensar os processos, mesmo que não se tenha verdades.
O primeiro destaque foi a relação entre planejamento e política no Brasil pós-Temer. “É um paradoxo pensarmos que, quando falamos de planejamento, referimo-nos a uma coisa que remete ao futuro. Dada a situação que a gente está, precisamos mudar os ângulos de visão. Mas como fazer isso? Utilizando instrumento de 20, 30 anos atrás? Será isso efeivo? […] Fala-se muito do golpe, mas como gente tão esperta como nós, com tantos instrumentos de análise, não vimos o que acabou acontecendo? Em algum momento, deixamos de fazer ciência, que também é prever processos, fazer um diagnóstico de situação”, disse Chorni, trazendo a imagem da embarcação Granma, que conduziu Fidel Castro, Ernesto ‘Che’ Guevara, Camilo Cienfuegos e mais outros 80 revolucionários do México para Cuba, em 1956, iniciando assim a transformação social naquele país. Eles tinham uma estratégia, expandiram-se dentro da população e ganharam. Aqui nesse congresso representamos cerca de 1 por 100 mil da população brasileira. Qual a nossa estratégia para multiplicar nossa potência? Qual será o nosso Granma? Como ganharemos?”, provocou.
Em seguida, Chorni voltou suas baterias para o debate da saúde, mostrando por meio de perguntas como ainda a construção do SUS como projeto civilizatório ainda está distante do debate social. “Está se produzindo saúde como antes? O SUS é apenas um conjunto de estabelecimento públicos? São recursos monetários? Pensar o SUS de modo operacional é pensar no mesmo SUS que nós aqui debatemos? Mais que uma linguagem comum, temos de pensar em como comunicar com o resto da população, deixar de lado esse nosso linguajar hermético e concentrar esforços com coisas implementáveis na prática, que movam uma corrente transformadora”.
A definição de metas ao campo progressista foi apontada por Chorni como um elemento desagregador e prejudicial. “Para o capital a meta é clara, é obter mais lucro. Mas, para o SUS não. A meta é atender mais gente? Obter mais recurso? Como mensuro? Qual saúde da população queremos para os diversos conjuntos da sociedade? são expectativas diferenciadas”, ressaltou ele, destacando que o planejamento não como um algoritmo, mas como concertações em passos sucessivos para se chegar a algum lugar. Outro aspecto comentado pelo decano foi a necessidade de estabelecer diálogo com os trabalhadores do setor privado da saúde, ‘a face oculta da lua da saúde’, que comumente são ignorados pela academia e pelos militantes do setor público. “Eles são muito mais do que nós, uma mão de obra semi-escravizada, como boa parte das técnicas de enfermagem, que são proibidas de pensar pelo saber médico. Os próprios hospitais privados não são as mesmas estruturas de antigamente. Hoje não precisam de tantos médicos, suas direções se pautam por critérios financeiros. O que fazer com esse pessoal do setor privado, que discurso apresentar para eles, que são irmãos de classe, e não ignorá-los? Há milhares de coisas no cotidiano que ninguém fala”.
Ao fim, Chorni destacou que é necessário perceber as mudanças no modo de produzir saúde mudou e trabalhar em muitas frentes de ação, diagnosticando fortalezas e fraquezas, buscando entender as bases sem querer se advogar como donos da verdade. “Mas não será com papeis que mudaremos a realidade”, concluiu. “Foram três falas que trouxeram não só o que já aprendemos, mas o que nos espera para frente. Eles apresentaram o desafio de que para frente temos de fazer muito mais do que fizemos, fechou Oswaldo Tanaka, encerrando com chave de ouro mais um importante encontro da Saúde Coletiva.