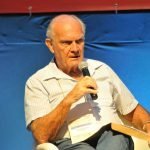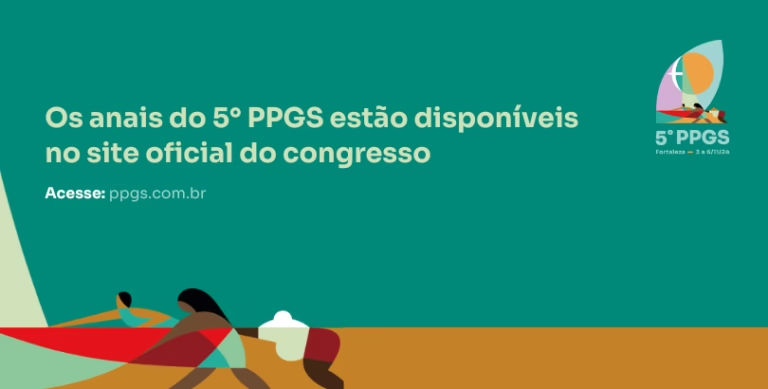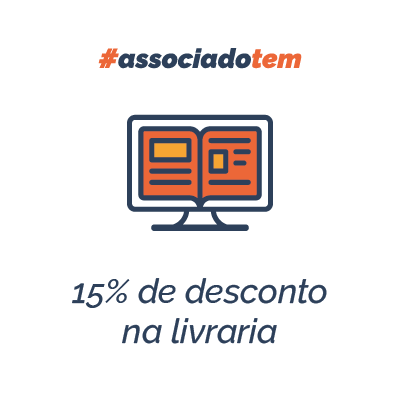Em sua configuração atual, poderia a Saúde Coletiva provocar novas indagações sobre si mesma, tanto como conhecimento disciplinar como expressão política de grupos distintos da sociedade brasileira? Por meio de recuperações históricas e de diferentes perspectivas sociológicas, Lilia Schraiber, do DMP/FM/USP; Ligia Vieira, do ISC/UFBA, e Nísia Trindade, presidente da Fiocruz, aceitaram o desafio e trouxeram este debate ao público do III Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde na mesa-redonda “Estudos sobre a História da Saúde Coletiva: lições e perspectivas”. A mediação foi de Nelson Rodrigues dos Santos, professor aposentado da Unicamp e coordenador do Idisa.
Lilia Schraiber abriu a sessão com alguns dos apontamentos resultantes da pesquisa “Paulistanidade” e a construção da Saúde Coletiva no estado de São Paulo, Brasil”, realizada em parceria com André Mota e José Ricardo Ayres, também docentes do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade da de São Paulo (DMP/FM/USP). O trabalho foi baseado em levantamento documental e em entrevistas com lideranças acadêmicas, dos serviços de saúde e das entidades da sociedade civil relacionadas diretamente com o movimento da Reforma Sanitária Brasileira – a maior parte de formuladores e fundadores do movimento em seu momento de irrupção, na década de 1970, e uma parcela menor de personagens de trajetória mais recente. “Se a Saúde Coletiva desenvolveu- se e hoje é reconhecida como uma esfera do conhecimento de atuação nacional, quais seriam suas marcas paulistas? Constatamos que essas marcas estão ligadas à diversidade e ao trabalho de estruturação acadêmica e dos serviços instalados no estado, que tiveram de incorporar e dialogar com a perspectiva do preventivismo das décadas de 1950 e 1960 e com a do desenvolvimentismo nas décadas seguintes. Foram redes que instauraram tensões intrarregionais e que repercutiram no debate nacional. Parte do trabalho foi o resgate dessas tensões”, explicou a professora.
As formulações que trouxeram novos elementos à compreensão do processo saúde-doença e das relações entre indivíduo, assistência e sociedade ao debate no interior dos cursos de medicina, segundo Lilia, representaram, à época, a possibilidade político-institucional de reorientar os espaços formativos já existentes e promover a abertura de novos cursos, levando a criação da Faculdade de Ciências Médicas de Ribeirão Preto, da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, da Faculdade de Ciências Médicas de Campinas e da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, todas entre o final da década de 1950 e o início dos anos 1960. “Mesmo que constituído por pensamentos diversos entre si, esse grupo de atores questionará a modernização vigente à época e estabelecerá um pensamento crítico, que se voltará à prevenção, à atenção integral e à própria medicina, com entrada das Ciências Sociais, possibilitando diferentes perspectivas para entender o social na construção do biológico”, apontou Lilia. Os mesmos atores retomam processos de articulação e tensão às voltas com os debates do desenvolvimentismo e com os processos de integração das redes de saúde instaladas no estado e na cidade de São Paulo pelos então ministérios da Saúde e da Previdência Social juntamente com estruturas municipais e estaduais, realizados em diferentes momentos das décadas de 1970 e 1980, como a “Reforma Leser”, e o processo de implantação das Ações Integradas de Saúde (AIS), em 1984.
Campo ou espaço em consolidação? Ao iniciar sua participação, Ligia Veira, professora do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (ISC/UFBA), fez o questionamento sobre a validade da sua própria pesquisa, tendo em vista o grande número de investigações a respeito da história e do papel da Reforma Sanitária Brasileira na Saúde Coletiva. O uso insuficiente do conceito de campo, de Pierre Bourdieu, e o potencial da epistemologia desse autor para as investigações foram os elementos que motivaram o estudo sócio-histórico empreendido pela pesquisadora, que aborda a gênese da Saúde Coletiva entre os anos 1970 e 1986 e as suas transformações, em especial no desenvolvimento dos programas de pós-graduação da disciplina. “Ao realizarmos a hierarquização dos campos das diversas formas de capital acumulado como preconiza o autor, não conseguimos reunir elementos suficientes para caracterizar a Saúde Coletiva como um campo. Partimos para o uso e compreensão da ideia de espaço social, muitas vezes usado de maneira similar por Bourdieu, mas que não são sinônimos”, explicou Lígia. Para a docente, a Saúde Coletiva pode ser considerada um espaço social em consolidação e com progressiva autonomia, mesmo que relativa e em constante disputa com os campos médico e político. “O próprio nome ‘Saúde Coletiva’ não correspondeu a uma construção teórica, mas sim a disputas no interior desses espaços”, ressaltou Lígia, indicando como momento seminal dessa nomenclatura os debates acerca do primeiro encontro dos programas de pós-graduação das medicinas preventiva, comunitária e social em 1978.
Ligia ressaltou ainda que a Saúde Coletiva como espaço social tem também suas próprias questões internas, como as relações assimétricas entre as sub-áreas Epidemiologia, Política, Planejamento e Gestão e Ciências Sociais em Saúde e a consolidação de sua identidade junto aos seus próprios pesquisadores e docentes. “Apenas 55% dos docentes titulares dos programas colocam a Saúde Coletiva como sua área principal de produção. Nesses quase 40 anos de história, a Saúde Coletiva tem buscado constituir uma lógica própria, deslocando-se da doença para saúde, do indivíduo para a sociedade e para a afirmação e construção de seus próprios paradigmas pelo processo da Reforma Sanitária”, concluiu.
Por agendas em sintonia com a sociedade: Socióloga e organizadora de obras que investigam as ações de grandes médicos intérpretes da sociedade brasileira e da própria Abrasco, Nísia Trindade, pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz) e presidente da Fundação Oswaldo Cruz, trouxe em sua fala reflexões e apontamentos da agenda intelectual e política da Saúde Coletiva na história do Brasil.
Em sua análise, Nísia destacou que, enquanto muitos países da América Latina a área da educação foi responsável pelo processo de modernização dos Estados nacionais, no Brasil isso coube em grande parte à saúde e aos movimentos intelectuais da área desde a Primeira República. “É claro que quando falo isso não estou dizendo que havia um entendimento de um movimento sanitário nesta época, mas sim que a saúde era o centro de uma reforma do Estado brasileiro”, localizou a pesquisadora, seguindo na avaliação de um deslizamento das noções centrais defendidas pelo campo da saúde sobre seu papel na sociedade brasileira. “Se na Primeira República temos a tentativa de se questionar as marcas de uma forte exclusão, no pós 2ª Guerra, vemos a discussão entre saúde e desenvolvimento como questão central. Já os anos 50 e 60 foram palco de uma série de projetos colocados na discussão do preventivismo e que foram abortados pelos movimentos ditatoriais. […] É possível pensar em várias origens e caminhos na constituição do campo da Saúde Coletiva, pensar como passados possíveis que iluminam a interdependência do Brasil a processos mais amplos na América Latina e no mundo. O mais importante é localizar duas vocações presentes na origem do movimento, que convocou e convoca para si o campo da ciência e da política”.
Para Nísia, é importante fazer o balanço sobre como a Saúde Coletiva foi se constituindo, sobre o que estava na gênese de sua agenda e seus legados. “É importante pensar uma agenda em consonância com a CT&I e o SUS, de pensar como a saúde vai enfrentar a quarta revolução tecnológica, que traz os debates sobre o big data e a medicina personalizada, de refletir sobre o desafio da educação permanente na construção da identidade e, principalmente, na grande agenda que é a do direito social e da cidadania.
Ao fim, Nelsão reforçou a lembrança de Nísia ao potiguar Carlos Gentile de Melo – “Todos falavam de Medicina Social e visão integral do processo saúde-doença, mas ele foi além e dedicou-se ao estudo de uma saúde pública e suas relações privatistas no Estado com uma grande exigência e rigor de investigação consigo mesmo” – e da necessidade de a Saúde Coletiva não perder a visão da intersetorialidade. “O SUS e o movimento da Reforma Sanitária jamais farão o verão sozinhos”.