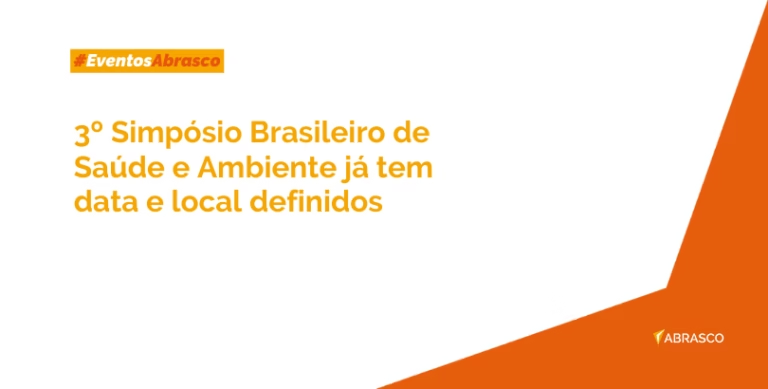No último dia de janeiro vários povos indígenas realizaram uma onda de passeatas de protestos em dezenas de cidades brasileiras e em mais oito países. As principais reivindicações são o retorno da Fundação Nacional do Índio – Funai à alçada do Ministério da Justiça e a recomposição de suas principais competências. Promovida nas primeiras horas do novo governo, a reforma ministerial esvaziou a instituição, além de subordiná-la ao Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos. Sobre os adversários históricos dos direitos indígenas que lutam contra a oficialização de áreas protegidas, a Abrasco ouviu o antropólogo e professor na Universidade de Brasília – UnB, Henyo Trindade Barretto Filho. Atualmente, Barreto coordena a Comissão de Assuntos Indígenas da ABA – Associação Brasileira de Antropologia, atuando principalmente com povos indígenas. Suas pesquisas enfocam relações interétnicas, ecologia política, políticas públicas (ambientais e indigenistas) e perspectivas interculturais na educação. Confira a entrevista para o Especial Abrasco – ABA sobre a questão indígena no Brasil.
Abrasco – Estas mudanças nas políticas para os povos indígenas prejudicarão de que maneira a continuidade dos processos demarcatórios?
Henyo Barreto – Prejudicarão de várias maneiras, mas fundamentalmente pela evidente subordinação dos procedimentos administrativos e técnicos de demarcação aos interesses políticos e econômicos representados no novo desenho do Ministério da Agricultura (Mapa) – e não é preciso ser especialmente inteligente para notar isso. Veja que entre as mudanças feitas está a criação de uma Secretaria Especial de Assuntos Fundiários – ocupada por um pecuarista e presidente da União Democrática Ruralista (UDR) – com suposto status de ministério, mas vinculada ao Mapa. Segundo declarações públicas do titular dessa nova Secretaria e que se apresentam como uma justificativa para a sua criação: “a pasta vai tratar de todos os assuntos ligados à questão fundiária no país como a reforma agrária, desapropriação de terras e a criação de projetos de assentamentos rurais”, além de passar a cuidar da demarcação de terras indígenas e titulação de territórios quilombolas. Observe que a justificativa é falaciosa, na melhor (ou pior) das hipóteses porque nem todas as dimensões da questão fundiária do país serão efetivamente tratadas por ela. Se assim fosse, a gestão fundiária das demais categorias de terras públicas deveria ter ido para a sua alçada também – refiro-me, por exemplo, às unidades de conservação de proteção integral e de uso sustentável previstas no SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação). O arranjo administrativo, por sua vez, é revelador. A declaração do titular da pasta faria sentido se nós tivéssemos um Ministério de Assuntos Fundiários ao qual estivessem subordinadas secretarias com o mesmo status para tratar dessas diferentes dimensões. Não é o caso, pois o desenho administrativo revela que a gestão territorial e fundiária ficará subordinada e a serviço de um segmento produtivo do setor primário. Essa luta por gerir a destinação das terras públicas no Brasil é antiquíssima e teve um importante capítulo recente na promulgação do “novo” Código “Florestal”, em 2012, no governo Dilma, que flexibilizou as exigências conservacionistas para as propriedades rurais e criou o Cadastro Ambiental Rural (CAR), cuja gestão encontrava-se no Serviço Florestal Brasileiro do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e, com as mudanças, também foi transferida para o Mapa, esvaziando assim o papel do MMA na implementação do Código. Traduzindo a perversidade: o setor produtivo regulado passa a tomar conta do órgão regulador. Concluindo: com essas mudanças, por um lado, consolida-se a flexibilização da regulação ambiental e da função social da propriedade porteira adentro; e por outro, põe-se a gestão das terras públicas porteira à fora nas mãos de um segmento produtivo do setor primário. Daí que é de se esperar que a paralisia do reconhecimento dos direitos territoriais indígenas persista.
Abrasco – A política fundiária do Estado brasileiro vem priorizando o agronegócio exportador?
Henyo Barreto – Sem sombra de dúvida e não é de hoje. Além dos aspectos que já mencionei em resposta à pergunta anterior, basta observar o espaço político conquistado pelo agronegócio e os seus representantes no Parlamento – a Frente Parlamentar Agropecuária (FPA), que já vinha propondo um conjunto de medidas legislativas restritivas aos direitos indígenas – e no Executivo – com uma sucessão de representantes do setor no Mapa – desde os governos FHC. Tal espaço é fruto do peso que o setor passou a ter na balança comercial brasileira e no nosso produto interno bruto. Os efeitos dessa ofensiva ruralista se fizeram sentir na destinação de terras para a reforma agrária, que registra uma acentuada queda tanto na superfície das áreas desapropriadas, quanto na de números projetos de assentamento criados, ainda no segundo mandato de Lula. Não é à toa que desde 2005 o movimento indígena protagoniza anualmente o Abril Indígena/Acampamento Terra Livre (ATL), que em 2018 chegou à sua 14ª edição. À época, as organizações indígenas e indigenistas de longa tradição no processo de debate e construção de uma política indigenista pública brasileira, já estavam preocupadas com a intensificação das ameaças aos direitos indígenas e com os retrocessos visíveis no aumento da violência contra indígenas, o acirramento de conflitos e o cerceamento à implementação dos direitos indígenas por parte de agentes do Estado – quadro esse que só tende a se agravar na atual conjuntura política e com as mudanças implementadas (o que a recente invasão da TI Uru-Eu-Uau-Uau em Rondônia e a ameaça de invasão iminente das TIs Arariboia e Caru no Maranhão exemplificam).
Abrasco – Os povos da terra podem se integrar às cadeias de valor de produtos que geram, sem morrer como povo?
Henyo Barreto – Claro que sim e os exemplos são vários: o mel dos índios do Xingu e o óleo de pequi do povo Kisêdjê comercializados pelo Grupo Pão de Açúcar; a pimenta Baniwa e os cogumelos Yanomami no circuito da alta gastronomia; o guaraná dos Sateré-Mawé vendido para a Ambev; a castanha dos Wai Wai, Xikrin, Kuruaya e Xipaya comercializada com a Wickbold; a borracha dos Xipaya usada pela Mercur; o cumaru dos Kayapó e Panará comprado pela Lush e Firmenich (empresas de cosmésticos); a batata doce dos Tingui-Botó, maiores produtores desse item no estado de Sergipe; o etnoturismo de base comunitária dos Pataxó que cuidam da Reserva da Jaqueira – e por aí vai. Boa parte dessas iniciativas passa ao largo do poder público, seja de esquemas de incentivo, seja da assistência técnica, que pouco valoriza os sistemas produtivos tradicionais. Isso mostra que as economias indígenas têm se mantido sem qualquer subsídio estatal consistente. Tudo isso, contudo, é obnubilado pela omissão deliberada do Mapa, que só considera como “desenvolvimento” o arrendamento de terras indígenas. Além disso, a cumplicidade do governo com a economia ilegal (que se traduz em perdões e anistias a crimes relacionados a garimpo clandestino, roubo de madeira, grilagem de terra, entre outros) acaba produzindo uma situação de concorrência desleal com os serviços socioambientais e os produtos gerados pelos regimes e práticas de conhecimentos indígenas.
Abrasco – A questão indígena deveria ser tratada como alerta ao nosso futuro: indígenas e não indígenas?
Henyo Barreto – Vários colegas indígenas, antropólogos e antropólogos indígenas, observadores e analistas mais argutos dessas questões, têm chegado a conclusões relativamente semelhantes no que concerne ao lugar e ao papel dos povos indígenas no futuro do país e do planeta. Manuela Carneiro da Cunha notou a ultramodernidade dos regimes de conhecimentos e práticas tradicionais (indígenas e não indígenas), reconhecidos que são pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) e como provedores da agobiodiversidade que é fundamental para a nossa segurança alimentar. O que faz, entre outras coisas, Viveiros de Castro observar que a indianidade é um projeto de (e uma oportunidade de passagem para o) futuro e não uma memória do passado. A resiliência e a re(x)istência de muitos povos e comunidades às situações de vulnerabilização, pressões e ameaças em que vivem, deveria ser algo com o que aprendermos, pois, via regra, eles são os primeiros a sofrer e enfrentar desafios e privações que chegarão para todos nós. Como já disse Ailton Krenak, no dia em que não houver lugar para o índio no mundo, não haverá lugar para mais ninguém.
O Especial Abrasco – ABA sobre a questão indígena no Brasil traz ilustrações do carioca Matheus Ribs. O ilustrador se descreve como um cientista político em formação, um ilustrador da luta política. Ribs constantemente questiona a política, religião, amor, racismo, entre outros polêmicos temas e gentilmente cedeu estas ilustrações sobre a questão indígena.