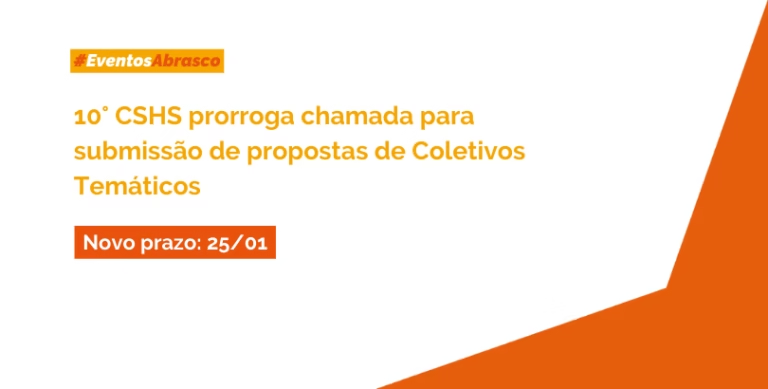A trajetória pessoal de Iêda Maria Santos, de 58 anos, como mulher negra, de axé e defensora do SUS foi se entrelaçando à profissional de tal modo que seus títulos traduzem a construção de sua narrativa. Nascida e criada nas águas de Salvador, conforme sua mãe dizia, todos os aspectos da vida de Iêda são atravessados pelas suas experiências e identificação. Esses fatores a aproximou da Estratégia Abrasco em Movimento e por isso trazemos aqui o seu relato, permeado de comunidade, ciência e interseccionalidade.
+ Saiba mais: Abrasco em Movimento: por novas e outras formas de coprodução de conhecimento
Iêda é enfermeira, membro suplente do Comitê Técnico Estadual de Saúde da População Negra e membro da Articulação Nacional da Enfermagem Negra (ANEN).
Para chegar até aqui, o caminho de Iêda se iniciou quando formou um grupo chamado “Companheiros na Saúde” em seu trabalho no Centro de Saúde Nossa Senhora de Fátima. O grupo era formado por adolescentes e jovens da comunidade que tinham interesse em discutir questões de saúde e Iêda e seus colegas fomentaram os debates, posteriormente com atividades presenciais aos sábados.
Os encontros contaram com os incentivos de universidades e da Rede Unida, resultando na construção de uma programação nas escolas sobre temas da saúde. Ao final, além de se tornarem referência na área da saúde, os participantes do grupo se tornaram agentes da saúde dentro da comunidade, psicólogos, entre outras formações.
“Até hoje eu os encontro. Teve uma dessas meninas, Rosileia. Ela me emocionou muito quando eu parabenizei uma atividade na rede social e ela me disse que fui a grande referência dela. Isso até hoje me deixa emocionada porque a gente sabe o quão difícil é para o jovem negro ascender. Rose hoje já fez mestrado e está procurando doutorado. É confortante saber que de alguma forma a gente interfere na vida desse jovem”, Iêda relembra comovida.
A enfermeira também voltou à carreira acadêmica, onde virou técnica da coordenação de Residências em Saúde/ ESPBA, coordenadora da COREMU/ESPBA e mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente. No entanto, Iêda relata que, durante esse período, sentiu passar por um embranquecimento.
“Embranquecimento, mas não no sentido de distanciamento negativo. Foi por conta da forma de produzir conhecimento, pois me afastei da comunidade, do lugar que me retroalimentava”, explica.
Ao receber um convite para trabalhar em uma faculdade no interior, Iêda não pensou duas vezes. Foi nesse momento que ela conseguiu retomar as conversas com a comunidade e fazer um trabalho de extensão de identificação e prevenção para as pessoas com síndrome metabólica.
A partir dessas experiências, a coordenadora defende que o ponto principal na produção científica deve ser a existência de um fio de diálogo. Ou seja, após a conclusão de uma pesquisa, é importante que a comunidade estudada tenha um suporte e seja ouvida constantemente.
Esta solução abraça a necessidade de documentação de culturas, religiões e histórias tradicionalmente orais. Iêda é Iyuarugbá de Òsàlá do Ilê Iyá Omi Axé e Iyamassê no Terreiro do Gantois, membro da diretoria da Associação de São Jorge Ebé Oxossi – Gantois, e percebe diretamente algumas lacunas nos processos de pesquisa acadêmica.
“Na graduação, hoje, um componente curricular trata de comunidade. A ideia é que esse tema esteja permeando tudo, mas a gente não percebe. A pergunta que sempre aparece e que os docentes fazem com frequência significativa é: ‘Em que momento o estudante consegue fazer um trabalho de comunidade?'”, aponta.
Iêda afirma que ainda não encontrou um diálogo entre acadêmicos da área de saúde e pessoas que estão vivenciando a saúde dentro de Terreiros, por exemplo. O afastamento entre universidade e sociedade é a consequência dessa estrutura, sendo dessa forma que preconceitos surgem, ainda mais sobre as práticas de saúde em diversas culturas e para grupos vulnerabilizados.
“Quando você fala da medicina tradicional chinesa, todo mundo fica de espinha ereta. Mas quando se fala da medicina tradicional afro-brasileira, é crendice. Onde está o respeito?”, questiona.
Aliada a isso, a questão da negritude fica mais em evidência. Iêda aponta que as pessoas negras foram as mais afetadas pelo Coronavírus, por exemplo. “E não apenas porque a maior parte do Brasil é negra. Mas porque também os postos e sistemas de saúde não estavam preparados. Os negros são quem sofre frequentemente com a falta de informação.”
Para a Iyuarugbá, algumas medidas devem ser adotadas para solucionar esse problema. Dentre elas, garantir que a história seja narrada por pessoas que são referências do grupo, criar espaços para preservação das histórias orais e incentivar tanto os estudantes quanto a própria comunidade a participarem da discussão sobre saúde local.
Durante a pandemia do Covid-19, Iêda se tornou membro do Comitê Comunitário de Enfrentamento à COVID 19 nas Comunidades de Religião de Matriz Africana, destinado a orientar os povos de religiões de contato direto com o outro. A iniciativa produziu cartilhas e cartões, porém para Iêda, foi o momento em que se aproximou de suas raízes.
A partir desse contato, a Iyuarugbá integra a Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde (RENAFRO/Bahia), a Rede de Defensoras Negras por Direitos Humanos e também a Rede de Mulheres de Terreiro. Mas apesar dessas mulheres promoverem rodas de conversa e preservarem as tradições religiosas, Iêda relata que não há impacto nas pesquisas e em convenções.
Por isso é necessário “mapear onde estão, o que estão fazendo, registrar, identificar o local”, conforme explica Iêda. Resgatando o ponto central da produção científica, a enfermeira enfatiza que a eficácia dessas pesquisas está diretamente relacionada ao diálogo estabelecido com essa mesma comunidade.
Por fim, a enfermeira faz um apelo para as metodologias, que devem ser respeitosas com o objeto de estudo, a fim de se evitar construir e exteriorizar um conhecimento de forma equivocada.
“Pise no chão devagar, com respeito. Até porque num chão de Terreiro, ou de Igrejas, é tudo chão sagrado. Na nossa casa, tem espaço em que andamos descalços não só pelo contato com a terra, mas pelo respeito, porque entendemos que o sapato é uma barreira. Entrar descalço significa humildade, porque meu título é social e fica do lado de fora. Ali dentro sou só a serva de Orixá. É um orgulho, com um significado espetacular, no mesmo nível em que dizer que sou mãe de Taís e Tiago. Meu peito aquece quando falo disso. Por isso cuidado com o que fala de nós. Pergunte, dialogue, procure saber sobre aquele lugar e propague uma cultura que dignifica.”