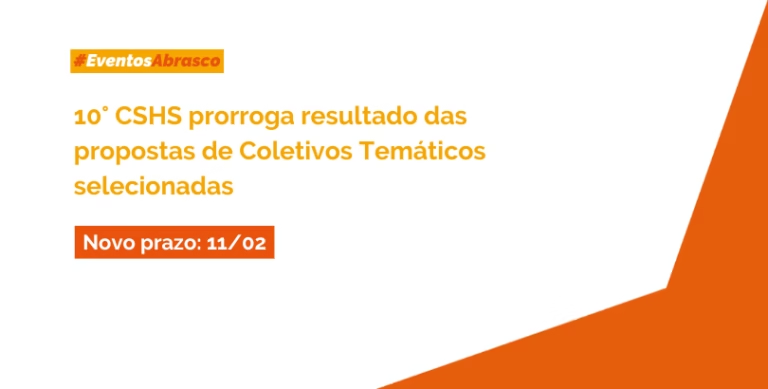A abrasquiana Fernanda Lopes, doutora em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e membro do Grupo Temático Racismo e Saúde da Abrasco publicou um Ensaio no Nexo Jornal, sobre racismo e aborto: no Brasil, o risco de uma mulher negra morrer por aborto inseguro é 2,5 vezes maior do que o de uma branca. Elas também são maioria entre as que dão à luz após uma gravidez não intencional. Fernanda, que é ainda consultora da Niketche: transformando realidades, que atua nas áreas de saúde e direitos humanos, desenvolvimento e equidade racial e de gênero – partidipará do Debate Emergente do 8º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, no domingo, 29 de setembro, às 17h00 na Tenda Palmira Lopes. Confira:
Direito à autonomia reprodutiva sempre esteve no centro da luta pelos direitos humanos das mulheres. Quando têm liberdade de decidir se querem ou não ter filhos, o número de filhos que desejam e em que momento da vida pretendem tê-los, as mulheres são capazes de interferir, estruturalmente, em todos os seus demais direitos fundamentais. Num contexto de desrespeito aos direitos e ameaça de retrocessos, a saúde reprodutiva das mulheres vem sendo alvo do poder disciplinador, a partir de sua sexualidade, e do poder regulamentador, a partir de sua reprodução. O racismo estrutural se caracteriza pela ausência de igualdade de reconhecimento e pela oferta de oportunidades desiguais para a população negra e outros grupos discriminados em função da cor de sua pele, etnia, origem cultural.
Ele define como a sociedade se organiza do ponto de vista social, econômico, político e também simbólico e, por consequência, se expressa pela desigualdade na distribuição do poder, pela discriminação e pela injustiça. Nós, mulheres negras, somos vítimas de violações sistemáticas de direitos, incluindo os direitos reprodutivos. Nas décadas de 1980 e 1990, o movimento de mulheres negras questionava as condições nas quais suas escolhas reprodutivas se davam, em especial considerando a esterilização aliada à cesariana, muitas vezes realizada sem o conhecimento ou consentimento delas.
A intervenção do Estado sobre os corpos femininos negros segue sendo uma realidade atual. Basta lembrar-se do caso de Janaína Aparecida Aquino, uma mulher negra que, segundo a Justiça de Mococa, São Paulo, por viver em contexto de pobreza, não teria o direito de decidir por sua trajetória reprodutiva e, mediante ordenamento judicial, foi submetida a uma cirurgia de laqueadura. Há também o caso das meninas em situação de abrigamento em Porto Alegre que, por determinação do Ministério Público, terão a sua fecundidade controlada pela implantação de DIU hormonal. Uma decisão contestada pelo movimento social e totalmente desvinculada de ações de educação em saúde, educação integral em sexualidade e aconselhamento em saúde sexual e reprodutiva.
Se o Estado brasileiro, por meio de seus agentes, intervém para impedir o exercício dos nossos direitos, seria a confirmação de que nós, mulheres negras, devemos ser destituídas de nossas capacidades para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948? Janaína e todas nós, mulheres parecidas com ela, independentemente da condição econômica, não teríamos nascido livres e iguais em dignidade e direitos? De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), cerca de 76% das pessoas que usam apenas os serviços da rede SUS (Sistema Único de Saúde) para prevenção, tratamento e reabilitação são negras, de baixo poder aquisitivo.
No universo de pessoas que dependem exclusivamente do SUS para receber atenção à sua saúde, mais de 70% são mulheres. A última Pesquisa Nacional de Demografia em Saúde (2006), indica que o uso de métodos contraceptivos modernos, por mulheres de 18 a 49 anos no Brasil, é da ordem de mais de 70%, contudo a maioria dessas mulheres declara ter acesso aos métodos em outros locais, que não serviços da rede pública. Se a maioria das mulheres que usam o SUS é negra e se a maioria das que declaram usar métodos contraceptivos modernos informa que não são adquiridos nos serviços da rede SUS, os dados da Pesquisa Nascer no Brasil (2015) são facilmente compreensíveis.
Segundo o estudo, mulheres negras e menos escolarizadas estavam entre aquelas que, com mais frequência, haviam dado à luz após uma gravidez não intencional. A prática do aborto sempre foi assumida como cotidiana pela elite, ainda que condenada. O impacto da condenação sempre variou de acordo com a condição social da mulher e nunca dependeu unicamente da situação de classe dela, mas sim de todo o entorno que a caracteriza e a define como agente singular incluída em uma comunidade.
O sistema de Justiça, a Igreja, o saber médico, a imprensa foram, e seguem sendo, essenciais na constituição, por um lado, de uma sensibilidade social para com a infância, e por outro, da condenação da mulher, no ensejo de redefinir práticas sociais e os seus significados. A crítica social sempre foi mais ou menos intensa a depender do status socioeconômico das mulheres e das chances de futuro que a sociedade lhes concederia a partir dessa decisão.
No passado, ao resistir ao aborto, as mulheres estariam reforçando uma demografia pródiga em filhos, colocando seus corpos a serviço das demandas do Estado e da Igreja. Seria essa função reprodutiva coercitiva algo que perdura até os tempos atuais, com impacto maior entre as negras? Seremos nós, mulheres negras, as eleitas para carregar o fardo de uma gravidez não intencional — ou para sermos criminalizadas e punidas com nossas vidas se não o fizermos?
No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, o risco de uma mulher negra morrer por aborto inseguro é 2,5 vezes o risco apresentado para mulheres brancas. Nesse caso, não seria absurdo afirmar que, para os aparatos estatais e muitos daqueles que neles atuam, as mulheres que optam por abortar ilegalmente seriam aquelas que se deve “deixar morrer”. Seríamos nós, mulheres negras, aquelas cujas mortes são, em última instância, o que vai permitir que a vida das e dos demais seja mais sadia e mais pura? Esperamos nós fortemente que não. Exigimos veementemente que não.